Plano de salvaguarda do Teatro de Grupo
Descrição
Em 2014, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São Paulo (CONPRESP) reconheceu como patrimônio imaterial da cidade as práticas culturais de vinte e dois grupos de teatro, registrando-as como bens culturais imateriais. Em 2021, diversos grupos de teatro atuantes na cidade se organizaram para elaborar o presente Plano de Salvaguarda do Teatro de Grupo como Patrimônio Imaterial do município de São Paulo, incluindo também o detalhamento técnico para o procedimento de revalidação do registro. A iniciativa envolveu também a colaboração e a assessoria do CPC/USP (Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo), pesquisadores e coletivos atuantes nas áreas de arquitetura, entidades representativas dos grupos como a Cooperativa Paulista de Teatro, MOTIN (Movimento de Teatros Independentes) e o MTG (Movimento dos Teatros de Grupo) e a equipe técnica do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH/SMC). As medidas dialogam com o previsto na legislação específica do patrimônio cultural imaterial, do Plano Diretor Estratégico e das metodologias do Instituto do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e são inéditas no âmbito do município de São Paulo.
Você está vendo a versão preliminar
Para comentar este documento, você deve acessar sua conta ou registrar nova conta. Em seguida, selecione o texto que deseja comentar e pressione o botão com o lápis. Se você é uma pessoa com deficiência, clique no link/botão "Acessibilidade/ Contribuir na consulta pública".
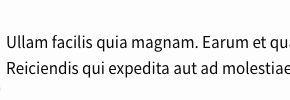

PLANO DE SALVAGUARDA DO
TEATRO DE GRUPO DA CIDADE DE SÃO PAULO
2023
Ficha Técnica
Organização:
Alessandra Queiroz
Alexandre Luiz Mate
Caio Franzolin
Daniel Alves Brasil
Egla Monteiro
Izabelle Maria Micelli
Luca Fuser
Luiz Carlos Moreira
Marilza Batista
Renato Mendes
Renata Adriana
Simone Scifoni
Thiago Vasconcelos
Equipe de Trabalho:
Adriel Costa Marinho (Mosaico/GT Motin/Escritório Modelo da FAU Mackenzie)
Alessandra Queiroz (Companhia Antropofágica / Cooperativa Paulista de Teatro)
Alexandre Luiz Mate (Universidade Estadual Paulista – IA/UNESP)
Alice Giro Ferri (Mosaico/GT Motin/Escritório Modelo da FAU Mackenzie)
Ana Célia de Moura (CPC/USP)
André Guimarães Maia (CPC/USP)
Artur Matar (Engenho Teatral)
Bárbara Silva dos Santos (Mosaico/GT Motin/Escritório Modelo da FAU Mackenzie)
Bruna Bacetti Souza (arquiteta, pesquisadora)
Caio Sérgio de Castro A. Floret Franzolin (A Próxima Companhia / PPG-Artes/IA/Unesp)
Camila Mota (Teatro Oficina Uzina Uzona)
Cristiano Trindade (CPC/USP)
Daniel Alves Brasil (Refinaria Teatral)
Débora Gomes Silvério (CENOGRAM/Escritório Modelo da FAU-Mackenzie)
Egla Monteiro (Teatro de Utopias)
Eliane de Lima Nunes (CPC/USP)
Gabriel de Andrade Fernandes (CPC/USP)
Izabelle Maria Micelli (Produtora Cultural)
João Rodrigo V. Martins (Educador popular, trabalhador da cultura e Doutorando em Antropologia Social/UFSC)
Juliana Nunes Watanabe (Mosaico/GT Motin/Escritório Modelo da FAU Mackenzie)
Júlio Cirullo Junior (DPH/PMSP)
Lievin Kiandre (CPC/USP)
Luca Fuser (DPH/PMSP)
Lui Seixas (Folias d’Arte)
Maria Del Carmen Hermida Martinez Ruiz (CPC/USP)
Maria Fernanda M. Monteiro (Mosaico/GT Motin/Escritório Modelo da FAU Mackenzie)
Mariana Soutto Mayor (Universidade Estadual Paulista – IA/UNESP)
Marilza Batista (Estudo de Cena)
Renato Mendes (Ator, dramaturgo, pesquisador e professor de teatro)
Renata Adriana (Companhia Antropofágica)
Rodrigo Augusto das Neves (CPC/USP)
Samara Santos da Silva (CPC/USP)
Sérgio Santiago (Grupo Arlequins)
Simone Carleto (Pós-doutoranda PPG-Artes/IA/Unesp)
Sylvia Moreira (Ágora Teatro / MOTIN)
Simone Scifoni (CPC/USP)
Tatiana Nara Barp Emygdio (CPC/USP)
Vanessa de Lima Oliveira (CPC/USP)
Victor Gomes (Teatro Oficina Uzina Uzona)
Sumário
Parte 01 – APRESENTAÇÃO, HISTORICIDADE E CONCEITUAÇÃO
Apresentação – p. 04
O que é um plano de salvaguarda de um bem cultural imaterial – p. 07
O processo de elaboração – p. 08
Teatro de Grupo: historicidade – p. 13
Teatro de Grupo: conceituação – p. 21
O épico, o drama e suas formas de produção– p. 22
Grupos e afirmação subjetiva de recortes sociais– p. 30
Para se entender os parâmetros gerais – p. 33
Parâmetros gerais– p. 35
Sínteses do teatro de grupo – p. 41
Parte 02 – LEVANTAMENTO DOS GRUPOS DE TEATRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Existência de sede – p. 44
Proteção legal das práticas culturais e dos espaços físicos dos grupos – p. 48
Ano de fundação dos grupos – p. 51
Número de integrantes – p.53
Grupos com recorte étnico-racial, de gênero e sexualidade – p. 54
Parte 03 – AÇÕES DE SALVAGUARDA
Apresentação das Ações Propostas – p. 57
Levantamento de Ações por eixo de preservação – p. 58
Eixo 1 - Produção e Reprodução Cultural – p. 58
Eixo 2 - Mobilização Social e Alcance da Política – p. 61
Eixo 3 - Gestão Participativa e Sustentabilidade – p.64
Eixo 4 - Difusão e Valorização – p.66
Glossário de principais siglas citadas nas ações – p.68
LISTA PRELIMINAR DOS COLETIVOS DO TEATRO DE GRUPO DA CIDADE DE SÃO PAULO IDENTIFICADOS – p.69
Parte 01 – APRESENTAÇÃO, HISTORICIDADE E CONCEITUAÇÃO
1. Apresentação
Em 2014, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São Paulo (Conpresp) reconheceu como patrimônio imaterial da cidade as práticas culturais de vinte e dois grupos de teatro, instituindo como instrumento de proteção o Registro na categoria Forma de Expressão, garantindo a sua proteção, com base na Lei Municipal 14.406, de 21 de maio de 2007.
Os grupos de teatro, então, identificados na Resolução 23/Conpresp/2014 foram os seguintes: Casa Balagan; Companhia da Revista; Teatro do Incêndio; Casa Livre; Teatro Commune; Espaço Os Fofos Encenam; Casa Laboratório para as Artes do Teatro; Casa do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; Sede Luz do Faroeste; Galpão do Folias; Espaço Cia. do Feijão; Espaço dos Satyros; Teatro Heleny Guariba; casarão da Escola Paulista de Restauro/Espaço Redimunho de Teatro; Teatro Coletivo (CIT Ecum); Club Noir; Teatro do Ator; Brincante; Espaço Maquinaria; Teatro da Vertigem; Teatro Oficina; Café Concerto Uranus.
A motivação inicial que levou ao processo de Registro relaciona-se com o pedido de tombamento do imóvel ocupado pela Cooperativa Paulista de Teatro e pelo CIT Ecum, na Rua da Consolação, no. 1623 (Processo 2014-0.130.596-9), em função das ameaças de despejo, que acabaram se efetivando com a construção de edifício no terreno. Em ata de reunião do Conpresp, realizada em 30/09/2014, os conselheiros reconheceram que essas ameaças de perda de espaços culturais não se restringiam a este caso. O pedido de tombamento foi arquivado naquela reunião, justificando, para tanto, a decisão pelo Registro como patrimônio imaterial de vários grupos de teatro, acima indicados.
Para subsidiar a decisão, segundo dados contidos na ata da reunião, foi encaminhado um levantamento com a seleção de 22 espaços culturais que apresentavam situação semelhante, de ameaça de perda de espaço, e que foram identificados com apoio do Departamento de Fomento ao Teatro, da Secretaria Municipal de Cultura. Tal levantamento, denominado pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) como “preliminar”, estava composto de fichas de identificação, com dados gerais de localização, histórico do espaço ou grupo e imagens das plataformas Google Street View e Google Maps.
Apesar da importância desse reconhecimento, o Registro representou, na prática, um título que atribui valor como patrimônio cultural, mas sem resultar em medidas concretas para a proteção da prática cultural singular dos Grupos de Teatro, entendida como uma “práxis”, que desenvolve de maneira ativa um robusto arcabouço teórico a partir da materialidade de suas ações e seu modo de organização. Tanto fizeram falta tais medidas que, logo após a publicação da Resolução 23/Conpresp/2014, alguns dos grupos identificados perderam os espaços onde desenvolviam atividades e estavam enraizados, sendo obrigados a migrar para outras partes da cidade e tendo sua produção cultural prejudicada.
Nesse sentido, embora reconhecendo a sua relevância como política pública voltada à proteção do patrimônio imaterial do município de São Paulo, enquanto uma abertura de discussão, não se pode deixar de notar os problemas e limites existentes no processo de patrimonialização deste bem cultural.
Em razão desta exposição introdutória, é preciso acrescentar que, primeiro lugar, o processo de patrimonialização não conceituou suficientemente o que é a prática cultural reconhecida como forma de expressão e como patrimônio imaterial, usando para tal diferentes designações: ora como teatro independente, ora Teatro de Grupo. Em consequência da falta de uma conceituação precisa, o processo de identificação também revela problemas que podem ser constatados na lista da Resolução 23, composta predominantemente por grupos de teatro, mas que se misturam com alguns espaços e casas de exibição de espetáculos e eventos e com instituições artísticas de caráter, também, de formação e preocupações pedagógicas.
Acredita-se que essa “confusão” tenha ocorrido pela junção de diferentes situações, a partir do critério da ameaça de despejo de espaços culturais. Além disso, a lista da resolução 23/Conpresp/2014 é ínfima, se comparada ao conjunto das práticas culturais realizadas no município de São Paulo que compreende a práxis do teatro de grupo, cuja profundidade estético-conceitual será apresentada devidamente adiante. Pretende-se esta a ser uma abordagem restrita para uma descrição de uma prática cultural ao servir, ao máximo, de tentativa de descrição de agentes ligados ao fazer.
Outro limite identificado é, como mencionado, a ausência de medidas concretas para a proteção de tal patrimônio imaterial. Entretanto, tais medidas somente podem, efetivamente, ser elaboradas em conjunto com os grupos detentores da referida práxis, ou prática cultural, a partir de processos participativos e de escuta dos sujeitos implicados com ela, premissa que se sabia ausente do processo do primeiro registro.
Diante de significativo conjunto de problemas, diversos grupos de teatro atuantes na cidade se organizaram em 2021 para elaborar o presente Plano de Salvaguarda do Teatro de Grupo como Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo. A iniciativa envolveu também a colaboração e a assessoria do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo (CPC/USP), pesquisadores/pesquisadoras e coletivos atuantes nas áreas de arquitetura, entidades representativas dos grupos como a Cooperativa Paulista de Teatro, Movimento de Teatros Independentes (Motin) e o Movimento dos Teatros de Grupo (MTG) e a equipe técnica do Núcleo de Identificação e Tombamento da Supervisão de Salvaguarda do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH/SMC).
Para fins da elaboração deste Plano de Salvaguarda compreende-se que a prática cultural entendida como forma de expressão e objeto da preservação pela resolução 23/Conpresp/2014 é o Teatro de Grupo, devidamente conceituado logo adiante. O sujeito coletivo desse fazer, aquele que realiza a práxis e que se relaciona com a figura que o campo do patrimônio define como detentor, é o grupo de teatro, também chamado de grupo teatral ou coletivo. Assim, o que se pretende com o Plano de Salvaguarda do Teatro de Grupo é fazer com que o Registro se torne um instrumento efetivo de preservação, tal como o disposto na Constituição Federal e nas legislações do município, fortalecendo as políticas públicas de cultura. Ainda, considerando o tempo transcorrido, se entende a pertinência de dialogar com a revalidação do Registro simultaneamente.
Para isso tomamos principalmente como base o trabalhado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Decreto Federal 3.551/2000, do Termo de Referência para a Salvaguarda de Bens Registrados (IPHAN, 2015) e a Cartilha Salvaguarda de bens registrados - Patrimônio cultural do Brasil - apoio e fomento (IPHAN, 2017).
A base legal para a realização deste plano é a Lei Municipal 14.406 de 21 de maio de 2007, que estabelece o instrumento do Registro, em conjunto com a resolução 07/Conpresp/2016, sobre os procedimentos. Soma-se a essas o atual Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (Lei 16.050 de 31/07/2014), que, em seu artigo 313, define os instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Patrimônio Cultural. Dentre os instrumentos, o inciso XI trata do Plano de Ação e Salvaguarda do Bem Protegido. Cabe mencionar também que o Plano Municipal de Cultura vigente antevê a realização dos planos de salvaguarda, em seu item 9.2. Nesse sentido, é o próprio Poder Executivo que estabelece a sua necessidade como garantia da proteção do patrimônio cultural.
Outro dispositivo legal fundamental para a sua elaboração do Plano de Salvaguarda é a Constituição Federal que, em seu artigo 216, determina, como um dos fundamentos da proteção do patrimônio cultural, a necessidade da gestão compartilhada entre o Poder Público e a comunidade. Trata-se, assim, de reconhecer que a proteção do patrimônio imaterial deve ser elaborada em conjunto com os suas pessoas detentoras. Ademais, medida relevante é a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), de 2003, que prevê esse aspecto participativo das ações ligadas aos bens imateriais de forma ampla.
Por fim, cabe lembrar que o presente plano de salvaguarda é uma iniciativa pioneira na cidade de São Paulo, pois é a primeira experiência de elaboração de importante ação de proteção do patrimônio imaterial realizada, com conceituação sólida e de modo participativo com os sujeitos detentores do bem em questão.
O que é um plano de salvaguarda de um bem cultural imaterial
Trata-se de um documento que indica as medidas necessárias para garantir a continuidade e permanência, no tempo (e no espaço), do patrimônio cultural imaterial, ou intangível, reconhecido. São consideradas medidas de salvaguarda: a identificação, a documentação, a proteção, a promoção, a valorização, a transmissão (por meio da educação formal e não formal) e a revitalização do patrimônio em seus diferentes aspectos.
Segundo o Iphan, identificar, documentar e investigar são atividades necessárias de um plano, tendo em vista que nem sempre, no momento do registro como patrimônio imaterial, é possível produzir um levantamento abrangente das práticas culturais, ainda mais quando este é realizado em condições de urgência. Para garantir a continuidade e permanência do patrimônio cultural imaterial é preciso, ainda, reconhecer eventuais problemas e riscos às atividades, planejar e encaminhar estratégias de solução. O plano de salvaguarda deve indicar, portanto, todos esses elementos.
Ainda conforme o Iphan, o plano de salvaguarda deve ser realizado acompanhando o Registro e deve ser feito na perspectiva de seus sujeitos detentores do patrimônio imaterial, de forma participativa.
São consideradas detentoras as pessoas que integram comunidades, grupos e coletividades que possuem relação direta com a dinâmica de produção e reprodução de determinado bem cultural. Os sujeitos em posição de detentores possuem conhecimentos específicos sobre esses bens culturais e são os principais responsáveis pela sua transmissão para as futuras gerações, pela continuidade de sua práxis e dos valores simbólicos a ela associados ao longo do tempo.
No caso do Teatro de Grupo, o agente coletivo central é o grupo de teatro, que se entende aqui como um sujeito histórico coletivo, aquele que efetua a práxis, reunindo as pessoas detentoras e realizando experimentos estéticos conjuntamente, cuja definição e parâmetros serão apresentados a seguir, no item 2 deste Plano.
O processo de elaboração
A iniciativa partiu de diversos grupos de teatro da cidade, com apoio do CPC/USP, que se reuniram, em maio de 2021, para organizar os trabalhos do plano. Iniciou-se, assim, a pesquisa por documentação, levantamentos e estudos, mapeamento de grupos atuantes e montagem de uma planilha com esses contatos para ampliar a rede de participantes.
Durante os primeiros meses, a equipe trabalhou intensamente, reunindo-se semanalmente, sempre de forma remota, em função situação de pandemia e da necessidade de distanciamento social. Foram estudados os materiais do Iphan que orientam a elaboração de um plano de salvaguarda: termo de referência e cartilha. De início ficou clara a necessidade de conceituar a prática e de entendê-la do ponto de vista histórico e objetivo, como um primeiro ponto de partida.
Neste momento inicial, também foi feito um contato com o Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura, e enviado um convite para a participação nas reuniões, sendo que a partir da 4ª reunião realizada, no início de agosto de 2021, técnicos do DPH se juntaram à equipe.
Em agosto daquele ano, uma das atividades da equipe foi o estudo de alguns dossiês e planos de salvaguarda do Iphan, que poderiam servir como referência. A equipe técnica do CPC/USP ficou responsável pelo estudo e apresentação de tais materiais. Foram estudados os dossiês de registro dos seguintes bens na categoria Forma de Expressão: Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Roda de Capoeira e Jongo no Sudeste. Além desses, também foi apresentado o Dossiê da Feira de Caruaru, na categoria Lugar.
A partir da 9ª reunião, realizada em setembro de 2021, a equipe resolveu se dividir em quatro frentes de trabalho ou núcleos, cada qual com uma tarefa específica:
Núcleo 1: levantamento do histórico das dessa prática cultural
Núcleo 2: levantamento de dados, uma “radiografia” da atuação dos grupos
Núcleo 3: definição de parâmetros gerais, os pontos de convergência dos grupos
Núcleo 4: riscos e propostas de proteção
A proposta era de que, durante o mês de outubro, os núcleos desenvolvessem suas tarefas, apresentando para os demais, em novembro de 2021, na 10ª reunião. Naquela ocasião, foram apresentados os resultados, que contemplavam ainda pesquisas preliminares, e ficou decidido que, além de reuniões gerais de toda a equipe, os núcleos continuariam fazendo suas reuniões semanais para elaborar as tarefas elencadas.
Na apresentação geral dos 4 núcleos, uma das questões que se apresentou problemática dizia respeito à dificuldade de encontrar informações sobre a atuação de muitos grupos de teatro. Sendo assim, para complementar o levantamento e também incorporar o olhar das variadas expressões da práxis a partir daquelas pessoas que lhe são próprias enquanto detentoras, foi sugerida a realização de uma Chamada Pública para que os grupos pudessem responder questões sobre a sua trajetória de atuação.
Na 11ª reunião, a equipe começou a organizar as questões para a chamada, realizada com apoio de recursos públicos executados pelo DPH, no mês de dezembro. Os recursos viabilizaram a contratação da organização, gestão das informações coletadas, tabulação e elaboração de relatório, disponível em anexo. A chamada pública foi respondida por 130 grupos ativos na capital de um total que, naquele momento, a pesquisa mostrava ser em torno de 290.
Em janeiro de 2022, a equipe iniciou os trabalhos com a realização de reunião com o novo diretor do DPH, para apresentação do trabalho que estava sendo desenvolvido. Nas outras reuniões que se seguiram nos meses daquele ano, foram tratadas as seguintes pautas: leitura e discussão do relatório da Chamada Pública, apresentação do andamento dos trabalhos dos núcleos, com a decisão de junção do núcleo 1 e 3 em histórico e conceituação; apresentação e discussão do texto de conceitos, do levantamento e tabulação de dados e do levantamento de possíveis riscos e ameaças à continuidade do teatro de grupo na cidade e respectivas propostas de proteção.
Com o avanço das tarefas realizadas em cada um dos núcleos, o Plano de Salvaguarda começou a se concretizar estruturado em um texto, no mês de setembro de 2022. O passo seguinte foi a realização de um Encontro de Trabalho, na forma presencial, para apresentar e debater a proposta do Plano com os coletivos que foram identificados como Teatro de Grupo. Posteriormente, em outubro, a equipe organizou um evento, que foi realizado no Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA/USP) com apoio do Teatro da USP (TUSP). Como o objetivo era apresentar e envolver os demais grupos no Plano, além do convite para participação, foi divulgado um texto preliminar para consulta e discussão.
O Encontro de Trabalho foi realizado nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2022, com a seguinte programação:
30/11: Apresentação do Plano de Salvaguarda e Conferência do pesquisador Alexandre Mate, sobre o sujeito histórico Teatro de Grupo na cidade de São Paulo. Oficina 1: conceituação Teatro de Grupo.
01/12: Oficina 2: Levantamento de ameaças e formas de proteção. Sistematização do resultado das 2 oficinas.
02/12: Apresentação dos resultados e encaminhamentos finais.
Os passos finais foram a complementação e alteração do texto do Plano, incorporando as discussões do Encontro de Trabalho, leitura conjunta e pública com representantes de vários grupos de teatro. Fora proposto também uma reunião específica para aprofundar a discussão em torno de desigualdades de gênero, raça e classe e seus atravessamentos com a prática do Teatro de Grupo e o Plano de Salvaguarda. Por fim, a realização de um evento de devolutiva aos participantes.
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Imagem 1: Foto da apresentação final do I Encontro de Trabalho. Créditos: Eduardo Kishimoto
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Imagem 2: Foto do segundo dia do I Encontro de Trabalho. Créditos: Eduardo Kishimoto
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Imagem 3: Destaque da atividade de sistematização do segundo dia do I Encontro de Trabalho. Créditos: Simone Scifoni
Como síntese dos resultados de cada equipe destacam-se a realização de mais de 20 reuniões que ocorreram, desde maio de 2021 até início de 2023, para planejamento e execução dos trabalhos.
Ao longo das várias reuniões realizadas, além da contribuição de diversas instituições e pesquisadores, elencados no início deste trabalho, registramos a presença dos seguintes integrantes de grupos e de instituições representantes: Ágora Teatro, A Próxima Companhia, Refinaria Teatral, Teatro Oficina Uzyna Uzona, Teatro de Utopias, Grupo Folias d'Arte, Teatro do Incêndio, Engenho Teatral, Companhia Elevador de Teatro Panorâmico, Teatro União e Olho Vivo - TUOV, Companhia Antropofágica, Companhia do Feijão, Grupo Estelar de Teatro, Pessoal do Faroeste, Atelier Cênico, Companhia Livre, Grupo Esparrama, Cooperativa Paulista de Teatro e Izabelle Marie Miceli como produtora independente associada a diversos grupos.
No Encontro de Trabalho participaram os seguintes Grupos: Refinaria Teatral, A Próxima Companhia, Teatro de Utopias, Teatro Studio Heleny Guariba - Núcleo do 184, Grupo Pandora de Teatro, Cia. Livre, República Ativa de Teatro, Companhia Estudo de Cena, Companhia Antropofágica, Coletivo Dolores Boca Aberta, Companhia Teatral As Graças e a Cooperativa Paulista de Teatro.
Cabe destacar que todo este processo de elaboração do Plano descrito anteriormente seguiu as indicações do Termo de Referência do Iphan. De acordo com ele, são estabelecidos quatro eixos principais de ações:
Mobilização Social: fomentar a autogestão do patrimônio pelos próprios sujeitos detentores, tendo o poder público o papel de garantir a promoção de políticas intersetoriais.
Gestão Participativa: planejamento e elaboração de ações de salvaguarda pelos próprios grupos sociais.
Difusão e Valorização: ações voltadas a tornar pública a importância do patrimônio para a sociedade em geral.
Produção e Reprodução Cultural: ações de apoio à manutenção e continuidade das práticas e saberes relacionados ao bem cultural registrado.
2. Teatro de Grupo: historicidade
O Teatro de Grupo constitui hoje, na cidade de São Paulo, um componente fundamental da cultura local. Pesquisas recentes, como a realizada por Alexandre Mate e Márcio Aquiles (2020) apontam para, pelo menos, 180 coletivos organizados, autônomos e articulados entre si, nas mais variadas regiões da metrópole e seu entorno próximo. Mais do que ajuntamentos espontâneos de artistas, o Teatro de Grupo paulistano caracteriza-se como um sujeito histórico, marcado em sua fase madura desde, pelo menos, a década de 1950, mas retomando ecos de diferentes emergências históricas que não apenas acompanham a história da edificação da cidade, mas objetivamente fazem parte de sua construção enquanto pólis e enquanto subjetividade popular.
Descentralizando o processo criativo, o sujeito histórico Teatro de Grupo resulta, ao longo de seu percurso no tempo, em uma forma de produção, ou formas de produção, particulares, que o diferenciam das demais experiências teatrais e, talvez por isso, tenha sua existência tão persistente e tão pulsante e orgânica com a vida nos territórios da cidade. É possível observar relações diversas de território e de linguagem entre coletivos, porém todos ligados por um modo de criação que coloca intérpretes como membros ativos da obra, não apenas agentes de reprodução de um texto teatral a ser executado, ou objetos da visão única de um grande diretor. A relação implícita com o território se observa de norte, no bairro do Perus, onde o Grupo Pandora mantém sua sede e atividades desde 2016; bem como o grupo Refinaria Teatral, a sul; com o grupo Os Desconhecidos habitando Parelheiros; bem como Identidade Oculta, ou A Brava Companhia. Também se vê de leste, desde o Pombas Urbanas, da Cidade Tiradentes, Buraco d’Oráculo em São Miguel Paulista; ao oeste, onde se vê o coletivo Bando Trapos, na região do Campo Limpo, ou A Trupe Lona Preta, no Jardim Guaraú. As estéticas trabalhadas a partir desse modo criativo pelas companhias se dão das mais variadas formas, tendo coletivos de palhaços, performáticos, os que perscrutam os limiares entre o teatro e a dança, os que fazem da rua seu palco, desenvolvendo a forma do Teatro de Rua, grupos de máscaras, Teatro de Objetos, Teatro Documentário, aqueles que se encarregam do teatro realista, e mesmo, e mais comumente, companhias que mesclam diversas dessas e de outras linguagens, configurando cada uma sua própria linguagem contemporânea.
Ainda que se possa estabelecer um marco com as experiências fulcrais do Teatro de Arena, Teatro Paulista do Estudante, e Teatro Oficina, ajuntados e nascidos na década de 1950, essa forma criativa retoma e se reutiliza de sua ancestralidade, arraigada em experiências que romperam com o normativo de suas épocas e ajudaram a fundar e refundar tantas vezes a cena cultural paulistana.
No apagar das luzes do Brasil Império, ao final da década de 1880, se tem notícia de companhias amadoras de imigrantes europeus, que traziam e, eventualmente, traduziam, peças de sua terra natal. Ao mesmo tempo, parte da população negra, recém liberta pela abolição da escravatura, encontrava no ajuntamento e no fazer teatral uma alternativa a um mercado de trabalho que lhes expulsava sem nenhuma compensação pelos séculos de senzala. Afastados dos grandes teatros profissionais, que preferiam emprestar suas tábuas a companhias renomadas estrangeiras, esses primeiros grupos se organizavam, ensaiavam e apresentavam, a princípio, nas vilas operárias que começavam a surgir conforme a industrialização da cidade se dava. Era no espaço do teatro que imigrantes e brasileiros gradualmente rompiam a barreira do idioma, desenvolvendo a linguagem comum do encontro e da arte (LIMA; VARGAS, 1987 e RODRIGUES, 1992).
Essa forma filodramática, que reivindica o amadorismo como identidade, em negação ao profissional especialista e alienado das demais funções da produção, ganhou força com a influência de operários e operárias anarquistas que a transformaram no Teatro Social. Com o trabalho cultural conjunto de inúmeros anônimos e inúmeras anônimas, é seguro afirmar que cada fábrica da cidade observava, em sua respectiva vila operária, um ou mais grupos, geralmente de vida curta, mas que eram logo reconstruídos por seus mesmos membros, junto a novos. Mesclando músicas populares, temas sociais diretamente representando às classes populares em suas personagens, e em direta interação com o público, o teatro de anarquistas desafiava as convenções das peças representadas nos grandes salões profissionais. De maneira autogerida, operários, carpinteiros, sapateiros, alfaiates, tipógrafos, costureiras, entre outros, desalienavam-se do trabalho da linha de produção, utilizando suas capacidades artesanais para a tecedura de um processo criativo do qual eram sujeito, não objeto, preparando o palco sobre o qual representariam a si e aos seus e suas. Perdurando até meados da década de 1930, o teatro operário teve no Grupo Theatro Social, fundado em 1922, seu mais duradouro representante, habitando a Vila Maria Zélia, na região da Moóca (HIPÓLIDE, 2011).
Há, na década de 1930, um momento de recuo e concentração, não apenas do sujeito histórico teatro de grupo, como também dos mais diversos agentes da cultura brasileira. No regime varguista, a ideia de uma cultura nacional única, absoluta e vertical, levou à desmobilização de coletivos artísticos organizados. No entanto, a ideia e as práticas persistiram. Além de companhias que praticavam o chamado Teatro de Revista, de grande apelo popular, trazendo a dança e o canto de uma maneira muito maior e transformadora para a esfera do teatro, também começaram a surgir núcleos teatrais estudantis, de maneira amadora, dentro das universidades. Nesse espírito, na década seguinte, surgem coletivos ousados e de caráter estético já maduro, como o Grupo Universitário de Teatro, de jovens estudantes de filosofia, em 1943, coordenado por Décio de Almeida Prado, e o Grupo de Teatro Experimental-GTE, em 1949, dirigido por Alfredo Mesquita, ambos dentro da Universidade de São Paulo-USP. Estes seriam importantes para o desenvolvimento da Escola de Arte Dramática-EAD, e a formação de novos e novas artistas que povoariam os palcos do Teatro Brasileiro de Comédia-TBC, fundados em 1948. Também é na mesma década que o histórico artista e militante antirracista Abdias do Nascimento fundaria o breve núcleo paulistano do seu já consolidado Teatro Experimental do Negro-TEN. Ainda, no seio da faculdade de direito do Largo São Francisco, o embrião do que seria o Teatro do Largo já fomentava o imaginário de figuras importantes para o Teatro de Grupo em São Paulo e no Brasil, como Antunes Filho, Amir Haddad, José Celso Martinez Corrêa, entre outros.
É possível, e até mesmo comum, encontrar autores que enxerguem no grande empreendimento cultural que foi o TBC um referencial para o Teatro de Grupo. Da mesma forma, as relações hierárquicas e o pertencimento à cultura de mercado tornaram questionável tal perspectiva. Pertencente ou não a este sujeito histórico, fato é que, com organização administrativa e mesmo financeira mais arrojadas que os grupos que já existiam, a companhia fixa de atores e atrizes mantidos pelo projeto do filantropo Franco Zampari trouxe um modelo de trabalho que profissionalizaria o Teatro de Grupo na cidade. Além disso, de seu aparente fim, surgiram as sementes de diversas outras companhias, algumas que se mantiveram em São Paulo, e outras que rumaram para o Rio de Janeiro. Algumas delas, de grande importância, foram o Teatro dos 7 e o Teatro Paulo Autran. O profissionalismo administrativo, a relação com os diretores convidados, a experimentação de novas linguagens, como se dava no núcleo dirigido por Ziembinski, a formação de novos e novas jovens artistas a partir de suas experiências, e o reconhecimento dos grupos de teatro como pertencentes e imprescindíveis para a cena cotidiana e vida diária da cidade foram possivelmente o grande legado do TBC para o Teatro de Grupo.
Foi justamente do interior da EAD, fundada, a princípio, para formar artistas para o TBC, que surgiu o maior contraponto que o teatro de Zampari encontraria. Fundado em 1953, o Teatro de Arena revolucionaria o entendimento criativo e discursivo do que caracteriza o sujeito histórico Teatro de Grupo, e fundaria sua conceituação moderna. O caráter experimental dos grupos amadores se mostrava presente na exploração do espaço cênico diferente do palco frontal que o Arena explorava. O profissionalismo administrativo aprendido com a tradição do TBC permitiu fôlego e condições materiais para o mantimento do grupo, sobretudo aportado na figura de José Renato Pécora. A relação com o teatro estudantil se mantinha, ainda mais após 1955, quando o Teatro Paulista do Estudante, de Lélia Abramo, Oduvaldo Vianna Filho e Gianfrancesco Guarnieri se uniu à companhia, aprofundando como nunca antes a consciência social e política do Teatro de Grupo acerca de seu papel na transformação da cidade e seus sujeitos. O contato direto com experiências do entorno da cidade, como os núcleos do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC-UNE) no ABC paulista também contribuíram nesse sentido. Ainda, sob direção artística de Augusto Boal, o Teatro de Arena se dedicaria à investigação do que seria uma estética nacional que emergisse do povo, de suas culturas e expressões político-sociais, e quem seria, em cena, o sujeito brasileiro. Sendo um marco histórico de resistência ao regime autoritário do período, e também de renovação da cena cultural, o Teatro de Arena reinventa a dramaturgia e o modo de criação do Teatro de Grupo. De alguma forma, fiéis ao legado ou transgressores e inovadores, os grupos de teatro que passariam a surgir na cidade, pode-se dizer que, são todos filhos do Teatro de Arena.
Conviveram com o sucesso do TBC e do Arena outras experiências em Teatro de Grupo. Duas que também podem ser referendadas como marcos para a consolidação de um Sujeito Histórico emergiram na década de 1960, e seguem suas atividades pulsantes de vida e criação ainda hoje. O Teatro Popular União e Olho Vivo - TUOV, dirigido por César Vieira, ecoa os grupos de Teatro Social quando reivindica o amadorismo enquanto estética e bandeira, garantindo às outras categorias da classe trabalhadora o direito aos meios de criação, e faz de sua sede, no Bom Retiro, uma casa segura para os amadores e amadoras profissionais. Percorrendo o mesmo trajeto no tempo, o Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona (variação mais recente do nome e da grafia do grupo), fundado ainda na década anterior por Amir Haddad, Carlos Queiroz Telles e José Celso Martinez Corrêa, passa a ser levado adiante e ao presente por este terceiro, abolindo as fronteiras entre o teatro, a performance e o carnaval, fazendo da antropofagia de Oswald de Andrade sua ferramenta para a construção de uma encenação própria brasileira. Sediados no coração do bairro do Bixiga, o Oficina e seu edifício, projeto de Lina Bo Bardi reconhecido na imprensa internacional como “o teatro mais bonito do mundo”, desafia as divisas entre o teatro, o bairro e a cidade.
A ação teatral dos coletivos na cidade se apresentava nas décadas de 1960 e 1970 como um fenômeno tão emblemático que foi objeto da pesquisa intitulada “Grupos atuando à margem do sistema convencional de produção” realizada pelo Departamento de Informação e Documentação Artísticas (IDART), orgão fundamental no estudo e registro de variadas manifestações artísticas ao longo de décadas. O IDART realizou a pesquisa, sob coordenação de Maria Thereza Vargas e Reni Chaves Cardoso, entre os anos de 1977 e 1978 e teve como equipe de pesquisadores: Berenice Raulino, Carlos Eugênio Marcondes de Moura, Cláudia de Alencar, Linneu Dias e Mariângela Alves de Lima. Há época a equipe foi a campo, registrando, inclusive fotograficamente, sete grupos que atuavam à margem do circuito teatral comercial: Grupo de Teatro Ciências Sociais da USP, Giroartes, Grupo de Teatro Jambaí de Comédia, Núcleo, Pod Minoga, Sarabanda e Teatro Popular União e Olho Vivo. A pesquisa não foi editada e publicada até o momento, mas seu relatório final, os materiais levantados, entrevistas e estudos encontram-se no acervo do Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo.
O que se seguiu nos anos 1970 e 1980 foi uma profusão de novos coletivos, que adaptavam os expedientes criativos consolidados pela geração anterior, cada um à sua maneira, mas todos a partir da apropriação sobre os meios de criação e da autogestão criativa que caracterizam o Teatro de Grupo. As performances do Viajou sem Passaporte invadiam os palcos profissionais, literalmente, obrigando a estética clássica a dançar com a contemporaneidade. O humor nonsense encontrava formas plásticas em cenários experimentais na cena do Pod Minóga, integrado por Naum Alves de Souza, Carlos Moreno, Mira Haar, Flávio de Souza e do Grupo Ornitorrinco, com Maria Alice Vergueiro, Luiz Roberto Galízia e Cacá Rosset. Paulo Yutaka, Celso Saiki, Carlos Barreto, Ana Lúcia Cavalieri, Milton Tanaka, Hector Gonzales e Graciella de Leonnardis aprofundavam o caráter de pesquisa do Teatro de Grupo, investigando a cultura e as formas cênicas japonesas com o Grupo Ponkã. O argentino radicado em São Paulo Ilo Krugli trazia um diferente olhar para o teatro popular e o teatro infantil, com o Vento Forte. O teatro imagem e a linguagem do Teatro de Bonecos passaram a ser experimentados por companhias como o Boi Voador, o grupo Sobrevento, e a Companhia XPTO. Ao longo que a tradição de uma companhia estável e administrada dentro dos moldes mais formais do TBC se encontrava preservada no Grupo Macunaíma, de Antunes Filho, e o teatro engajado e combativo do Teatro de Arena se ouvia ecoado no Engenho Teatral. Essas foram algumas das expressões múltiplas das vertentes do modelo Teatro de Grupo que levaram à criação da Cooperativa Paulista de Teatro, em 1979, ou se potencializaram e floresceram a partir dela e de suas adjacências.
Cabe destacar que a Cooperativa Paulista de Teatro surge como a primeira entidade cooperativista voltada a área cultural do Brasil. Sua emergência é fruto da articulação de grupos de teatro e artistas que, após a regulamentação da profissão, almejam ter uma organização legal que pudesse representar e dar suporte jurídico-administrativo para seus contratos de trabalho e assim diminuir o caráter informal e de insegurança enfrentados pela classe teatral da época. Ao longo das décadas, a entidade passa a agregar centenas de coletivos e um quadro de milhares de associados no Estado de São Paulo, viabilizando a práxis dos grupos que não se enquadra e se opõe ao modo administrativo empresarial, e que parte de uma organização coletiva que desse suporte político-institucional para suas ações, se colocando como alternativa de organização em relação à lógica do mercado. A Cooperativa Paulista de Teatro representa coletivos, porém mantém a autonomia de criação e produção dos chamados núcleos artísticos que estão sob seu guarda-chuva. Os mesmos também são responsáveis pela própria entidade, no sentido cooperativista, participando de sua gestão e de suas decisões desde sua fundação até os dias de hoje. Com o passar dos tempos a entidade também auxilia na criação de outras cooperativas de artistas, seja na área teatral, seja em suas tangenciais artes da cena, como o circo, a dança e outras linguagens.
Sobre essa esteira histórica, grupos teatrais seguiram surgindo, ora continuando, ora transgredindo e ampliando o legado do Teatro de Grupo na cidade de São Paulo. O experimentalismo de linguagem, de cenários, e de relações híbridas da arte com a arquitetura da cidade se mostraram presentes nas obras do Teatro da Vertigem, que transformava igreja, hospital, presídio, ou mesmo o rio Tietê em palco. O teatro engajado na explicação e transformação das condições sociais, aportado na estética do Teatro Épico, encontrava novo fôlego com a fundação de grupos como a Companhia do Feijão e a Companhia do Latão. Mesmo o Teatro Realista, e os moldes clássicos do TBC se mostravam de vários modos presentes no trabalho de grupos como o Grupo TAPA, nascido no Rio de Janeiro, mas que se radicara como paulistano.
Ao final da década de 1990, um problema criativo resulta em uma solução criativa. Com o crescimento da quantidade de núcleos estáveis de pesquisa continuada, ou seja, grupos de teatro, ainda sendo uma realidade, o entendimento de que a arte como um todo seria um bem público, ganhava força da mesma maneira. No entanto, os apoios públicos ou privados ao fazer artístico caminhavam quase que em uníssono na direção de um mercado competitivo de geração de bens de consumo privado. Assim, artistas autônomos e grupos de teatro se juntaram no histórico movimento Arte Contra a Barbárie. Em um momento díspar na história, em que artistas organizados não apenas traçavam os caminhos da arte em seus territórios, mas então pautavam a discussão do poder público, os projetos populares da Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo (Lei 13.279/02) , o Programa Vocacional, o Programa Formação de Público e o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais - VAI (Lei 13.540/03) foram implementados, bem como equipamentos públicos como os Centros de Educação Unificada - CEUs, Casas de Cultura e Teatros Distritais, ampliando o alcance de um semeadouro de polos culturais nos mais diferentes cantos da cidade.
A cidade crescia, e a cultura paulistana também, de forma imbricada. Grupos antes distantes do centro, como o Engenho, no bairro do Campo Limpo e posteriormente no Carrão, o Laboratório de Ensaio, do Brás, ou o TUOV, do Bom Retiro, já não mais se viam nas extremidades de uma megalópole de periferia agigantada. A lei de Fomento, que já representava os alimentos poético e literal de grande parte dos grupos da cidade, fez nascerem mais e mais coletivos. De novas movimentações políticas que mostram a força de uma categoria organizada, nasce em 2016 o Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia (Lei 16.496/16), como política pública de cultura voltada ao apoio à coletivos artísticos das mais variadas linguagens atuantes nos territórios periféricos e compondo um leque de Fomentos a partir da matriz do Fomento ao Teatro já existente.
Atualmente, centenas de grupos teatrais seguem em atividade contínua na cidade de São Paulo. Grupos jovens nascem todos os anos, e se juntam e se articulam, ora mais, ora menos, com os veteranos ainda perenes. Estes também renovam seus núcleos artísticos, com a grande quantidade de jovens artistas que se formam semestre sim, semestre também na metrópole e em seu entorno, muitas vezes em processos artístico-pedagógicos organizados pelos próprios grupos. Elencar exemplos representativos da geração atual seria como colher estrelas no céu limpo do Marsilac, e também incorreria certamente em uma injustiça com os não citados. Ainda assim, são notáveis algumas tendências comuns entre coletivos tão plurais que dividem o mesmo tempo e o mesmo exercício de sua condição de sujeito histórico. Uma tendência certamente é um esfumaçamento de fronteiras entre os grupos. Além de artistas que atuam em dois, três ou mais núcleos artísticos de maneira presente e proponente, há também os núcleos que tem como praxe e como parte de sua pesquisa continuada o convite a artistas de outros coletivos, para que esses estabeleçam diálogos com outras perspectivas e mesmo técnicas de representação novas para o jogo cênico. Outra forte característica do teatro de grupo contemporâneo em São Paulo é o marcador temático e representativo de corpos dissidentes ao padrão social hegemônico. Coletivos fundamentalmente formados por pessoas pretas, pessoas trans, sujeitos de sexualidade divergente da heteronormativa, e de mulheres, tem se formado aos montes, trazendo a preocupação não apenas com a abordagem temática de tais pautas tão invisibilizadas pelos meios culturais, mas também com a participação e o protagonismo desses sujeitos no ato de criarem suas próprias histórias.
3. Teatro de Grupo: conceituação
O Teatro de Grupo caracteriza-se como um modo de pensar, organizar, produzir e criar o teatro, no qual um coletivo de artistas, com múltiplas formações e linguagens estéticas, agrupados e imbuídos por um mesmo propósito e ideário, desenvolvem um trabalho em continuidade e em colaboração, com consciência de si e do tempo histórico no qual se inserem, em franca oposição ao teatro mercadológico, muitas vezes com aterramento histórico e territorial específicos e estabelecidos. A atuação de tais coletivos, ao coligir linguagem teatral e propósitos pedagógicos (formação de integrantes e da comunidade em que se encontra), com consciência política da linguagem estética e do tempo em que estão inseridos, desenvolve suas ações a partir de modos/formas de produção coletivos e horizontalmente. Na perspectiva práxica, que produz teoria a partir da prática, posta em questão, os sujeitos organizados coletiva e de comum acordo criam obras artísticas e não produtos comerciais inseridos nas tendências hegemônicas.
A práxis coletiva do Teatro de Grupo não constitui em si uma única modalidade estética, uma vez que essa categoria tem como definição essencial a pluralidade e uma concepção de processo envolvendo diversas frentes.
Apesar de tratar-se de uma forma de produção presente nas sociedades capitalistas e liberais, pode-se afirmar que no caso brasileiro, o Teatro de Grupo se consolida, como o conhecemos hoje, no período da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985).
Portanto, aquilo que se nomeia como Teatro de Grupo não corresponde apenas a um mero modo organizacional coletivo, que não seria pouca coisa. Em uma outra narrativa, os grupos passam a se inserir como sujeito coletivo estético-político para marcar sua posição de divergência em relação ao teatro empresarial, comercial e mercadológico, em que os artistas não se engajam em todo o processo produtivo e cuja equipe se desfaz logo que a temporada termina. Em lugar de um salário pago por uma empresa, o sujeito histórico Teatro de Grupo distribui (a partir de critérios da própria organização coletiva) os recursos conquistados por meio de proposições ligadas a um sistema cooperativista. Tal fundamento, diferenciado do propugnado pela ideologia liberal e o empreendedorismo, por exemplo, transforma o conjunto criador em sócios do agrupamento, que é autogerido pela coletividade.
Cabe aqui destacar que a regulamentação da profissão de artistas e técnicos (Lei 6.533/1978) apontava para uma relação patrão-empregado ou contratante-contratado, relação que não se aplicava ao Teatro de Grupo já existente, exigindo outro tipo de mediação jurídica. O surgimento da Cooperativa Paulista de Teatro em 1979 foi uma solução encontrada no momento, com apoio do Sated – Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo e da Apetesp – Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo (a título de exemplo: em momentos diferentes, ambas chegaram a abrigar o escritório da Cooperativa em suas dependências). E, não menos importante, a ausência de um mercado e de uma classe patronal que empregasse os artistas e técnicos disponíveis e aqueles que as escolas profissionalizantes iriam mais e mais despejar no mercado de trabalho empurrava tais profissionais a se juntarem de forma coletiva em busca da sobrevivência material mas também dos sonhos estéticos, culturais, sociais e políticos que os definiam: não se empregar para realizar uma função em obra/produto alheia/o, mas realizar obras e trajetórias fundamentais para sua vida enquanto grupos e indivíduos.
Por sujeito histórico entende-se um grupo teatral que tem consciência crítica de si e de seu trabalho e se sabe (inclusive do ponto de vista classista) fazer parte de um coletivo histórico-social. Nessa perspectiva estético-política (podendo ou não ter compromisso partidário), a forma predominante em tais coletivos é uma forma híbrida que reúne e concentra diferentes proposições estéticas, do popular aos experimentalismos, em oposição à forma dramática clássica, e que se desenvolve, basicamente, por meio de práticas coletivo-colaborativas. Ao longo da história, é apresentado de forma evidente a consciência de que a montagem de uma obra por esses coletivos pressupõe certa autonomia e independência do grupo e d da comunidade com quem dialoga. Trata-se, assim, e em essencialidade militante, do desenvolvimento de uma estética cuja “legitimidade” se desenvolve pela práxis.
O épico, o drama e suas formas de produção
Ainda em relação ao drama e sua forma de produção hegemonicamente presente na história ocidental seguem algumas considerações para diferenciá-lo do Teatro de Grupo e suas variantes épicas (COSTA, 1998).
Ao longo dos séculos XX e XXI, o drama, e mais precisamente o melodrama, encontrou no empresário ou produtor teatral (muitas vezes um artista envolvido com sua criação) a forma geral para sua (re)produção. Basicamente através do dinheiro, às vezes também com alianças e parcerias (exemplo: substitui o salário por porcentagem de bilheteria) essa figura empresarial acessa os meios necessários para a produção teatral: teatro, contratação de profissionais, compra de direitos autorais, publicidade, etc. É ele, o empresário, quem escolhe um texto, contrata alguém para a direção, artistas e técnicos para transformar uma obra literária num espetáculo. Ao escolher esse texto e não outro, esse diretor e não outro, enfim, ao contratar esses profissionais (inclusive a seleção da dramaturgia) e não outros, pode-se afirmar que é ele quem define a obra a ser apresentada ao público. Artistas e equipe técnica recebem o chamado para executar papéis específicos adequados às suas características pessoais por um tempo também específico: os ensaios duram, em geral, até 03 meses porque o espetáculo tem que estrear e recuperar com lucro o dinheiro investido na empreitada.
Dizer que na forma drama o profissional é contratado para um papel específico não se restringe ao fato de caber pessoa encarregada da cenografia criar um cenário, a quem desempenhar a cenotécnica construí-lo e assim por diante. Significa também que, se a peça tem um personagem velho, normalmente será chamado um ator velho para o papel, se uma canção pede uma soprano com tal extensão vocal, será contratada uma atriz que preencha esses requisitos. Isso porque o drama ou o melodrama se apresentam “como se fossem reais”, o espetáculo cria uma ilusão de realidade: se a cena se passa numa sala ou numa cozinha, isto é, num local privado (raramente num local público), o cenário reproduzirá esse ambiente. Se o personagem é um policial, um nobre ou um mendigo, seu figurino reproduzirá tais características. Sintetica e esquematicamente, a ilusão de realidade se apresenta na sua forma mais aparente: tudo se reduz a relações pessoais em espaços privados ou privatizados (a rua ou o local de trabalho são locais onde os personagens individuais agem na relação com outros “indivíduos”). Afinal, ninguém vive a História ou relações sociais, vive-se um cotidiano de relações pessoais, familiares, amorosas, profissionais, de luta pela sobrevivência, etc., etc. Assim, as relações humanas são apresentadas como conflitos de indivíduos (o conflito é o primeiro fundamento de uma ação “dramática”) e os atores/atrizes representam como se fossem esses indivíduos/personagens. (Mas o mundo, as relações humanas e a História da humanidade se explicam por conflitos pessoais e privados?). E é no chamado ensaio de mesa que o diretor organiza tudo junto aos seus comandados antes de cada um ir para seu canto executar o que lhe cabe (sempre sob a batuta do diretor). Esse planejamento e execução correspondem, de certa forma, ao fordismo industrial.
Existem outras, e não poucas, características definidoras do drama e do melodrama. Mas, aqui, para evidenciar a relação entre forma de produção empresarial e drama/melodrama (para, em seguida, mostrar suas diferenças com o Teatro de Grupo) basta destacar essa síntese: temos, no caso, uma ação “dramática” conduzida por personagens e conflitos individuais (tradução ideológica da visão liberal e neoliberal de indivíduo) que encontrou historicamente sua forma de produção na divisão de funções e na organização vertical do trabalho (onde o empresário define tudo, permite que o diretor escolhido organize o espetáculo e artistas e técnicos executem e criem o que lhes cabe criar) necessariamente realizadas num tempo rápido de ensaios para diminuir os custos de produção e gerar lucro, função básica do empreendimento. Registre-se, novamente, o fato dos profissionais serem chamados para executar uma obra e num período definido de tempo; depois disso, cada um que tome seu rumo.
De saída, e também esquemática e hegemonicamente, o Teatro de Grupo não junta pessoas para executar uma obra mas a obra surge da relação entre as pessoas envolvidas no grupo: cabe a elas definir o que, como, quando, onde e para quem fazer; não por acaso, essas são questões abordadas em “As Cinco Dificuldades Para Escrever A Verdade”, texto do alemão Bertolt Brecht, certamente o principal prático e teórico (práxico) do teatro épico, de forte e perceptível influência na organização e estética dos grupos paulistanos. Para isso, contam, basicamente, com elas mesmas; e seus desejos ou necessidades de criação não se satisfazem nem se esgotam numa obra.
Leva tempo para que os indivíduos de um grupo consigam definir o que fazer. Mais tempo ainda leva o processo de trabalho para se chegar a um espetáculo: normalmente não se parte de uma peça pronta, o trabalho exige pesquisa, estudos, improvisações, discussões sem fim, texto e espetáculo nascem juntos, o planejamento não se dá antes da execução mas ao longo da mesma (em muitos casos, o espetáculo chega a ser modificado substancialmente durante as temporadas). E, se uma das premissas apontadas acima é que o Teatro de Grupo surge da impossibilidade do mercado em contratar artistas e equipe técnica existentes, esse é o “lugar de fala” do grupo: excluídos do mercado, eles chamam para si a tarefa de organizar coletivamente a precariedade do mundo do trabalho que lhes é imposta. Nesse sentido, por exemplo, “junta-se a fome com a vontade de comer”: na falta de dinheiro para contratar terceiros, além de interpretar, o ator/atriz terá que fazer adereços, figurinos, pintar o cenário, cuidar da divulgação, montar a luz, etc., etc., e “você, mocinha, terá que representar o velho pois os demais já estão em cena”. Não se trata apenas de exigências materiais, objetivas, concretas, mas também de uma “imposição” formal – personagens individuais e conflitos dramáticos, que pedem uma ligação direta entre intérprete e personagem, onde um se parece com o outro, não dão conta desse “lugar de fala”.
Surge, então, uma dramaturgia e um espetáculo que não se encaixam mais nos cânones do gênero dramático. As experiências e tentativas de dar conta desse mundo e dessa condição de grupo tomam os mais diversos rumos, criam e recriam diversas poéticas. Entretanto, essa diversidade não se pauta por criar, no palco, uma “ilusão de realidade”, tempo e espaço são estilhaçados e o elenco troca constantemente de papéis – o que impede cenários e figurinos figurativos e dificulta ou mesmo impede uma identificação entre ator ou atriz e personagem. Para dar conta dessa cena e dos conteúdos que ultrapassam relações pessoais, apela-se, muitas vezes, para a narração (não é mais o personagem quem conduz a ação) que, na tradicional teoria dos gêneros, pertence ao épico, não ao dramático. A própria fábula ou historinha, fundamentais no drama, é frequentemente abandonada; a idéia de “figura” talvez seja mais adequada que a idéia de “personagem”, e como falar em literatura dramática e mesmo em dramaturgia para um texto incompleto ou “indecifrável” pois só se concretiza e se realiza no palco e não no papel?
A isso alguns nomeiam como teatro épico, ponto final do teatro moderno no mundo capitalista; para outros é, sim, um teatro épico mas visto como rito de passagem onde os novos conteúdos ainda tateiam na sua busca em consolidar uma nova forma. Seja qual for a abordagem, é o “ensemble” ou o Teatro de Grupo, com destaque para os grupos paulistanos, o sujeito histórico dessa construção épica diversa e pluralista.
Essas considerações não esgotam o assunto nem excluem certa promiscuidade entre formas estéticas e formas de produção, mas sugerem uma ligação íntima entre o drama/melodrama e a forma de produção empresarial e entre o épico (não necessariamente brechtiano) e o Teatro de Grupo. Ao mesmo tempo, à exceção da Broadway londrina e novaiorquina, não se consolidou, particularmente no Brasil, uma classe empresarial de teatro (salvo exceções, alguém que se encarregue exclusivamente da produção é esporádico, intermitente e descapitalizado); com isso, parte significativa da produção passou para as mãos de coletivos de trabalhadores (o Teatro de Grupo). Essa aberração num mercado capitalista é, em si mesma, uma experiência não só histórica e social mas cultural: tanto ou mais do que a(s) obra(s) gerada(s), o Teatro de Grupo é, em si, no simples fato de existir e ser, uma experiência viva de organização do trabalho, da vida, da sobrevivência, de relações pessoais, da representação do mundo a partir dessa condição e desse “lugar de fala”. Isso, em si mesmo, não é cultura, cultura viva que se constrói historicamente, cotidianamente, para além das obras, das consciências e intenções? Nesse sentido, a cultura ou o imaginário imaterial se alicerça numa experiência concreta, que se materializa no grupo de teatro.
E se o empresariado teatral não se firmaram enquanto classe, e mesmo com incentivos fiscais ao mercado brasileiro não conseguiram rodar a roda do capital, como esperar que a bilheteria pague obras que chegam ao público após 01, 02 ou mais anos de criação? Que bilheteria paga esse trabalho “improdutivo” e que, necessariamente, navega muitas vezes contra o gosto hegemônico e conservador? E se o ingresso gratuito que acompanha muitos grupos de teatro não é uma questão filantrópica nem assistencialista, mas está imbricada em seu projeto estético, político, cultural, fica mais clara ainda a necessidade de salvaguardas econômicas para esse sujeito histórico.
Retomando. Evidentemente, como em qualquer outra área da vida, há discordâncias quanto ao uso do conceito (origem e práxica), mas é notório que o processo de epicização da linguagem teatral (que compreende um chão histórico distinto e preciso) passa a ser desenvolvido de modo mais politizado pelo enfrentamento ao arbítrio, à barbárie, às exclusões perpetrados contra a humanidade durante a ditadura civil-militar brasileira. Artistas que participaram dos processos de luta, em tese, não voltavam para a sala de ensaio do mesmo modo. O lugar do teatro nas vidas dos/das artistas passaram a exigir outro tipo de linguagem e de articulação social. Assim, o político, que é intrínseco ao estético foi sendo ressignificado. As lutas e enfrentamento sociais tinham de se reconfigurar estéticamente. Na dialética do viver “nasceu” (ou renasceu) um novo sujeito. Esse novo e coletivo sujeito, também se ateve às práticas de coletivos que vieram antes de si (Arena; Oficina; TUOV - Teatro Popular União e Olho Vivo; TTT – Truques, Traquejos & Teatro; as práxis dos CPCs e MCPs; Núcleo Independente e tantos outros).
Coletivos teatrais ligados ao sujeito histórico Teatro de Grupo aqui evidenciado têm consciência de que são feitos de história e de que a história é feita por gente em movimento e em luta. Nos processos de luta político-estéticas de seu tempo.
A paisagem teatral brasileira modificou-se significativamente com o fenômeno das práticas coletivas durante as décadas de 1990 e 2000. Centenas de núcleos surgiram ou foram revitalizados nos centros urbanos, em consequência de políticas públicas mínimas para o segmento, fruto da mobilização dos/das artistas. São grupos que, invariavelmente, desenvolvem ações pedagógicas de treinamento em processos de pesquisas contínuas, tanto na preparação do conjunto criador como de gente interessada na linguagem (sendo ou não artistas profissionais). Que lembremos sempre de Augusto Boal, acerca desta última determinação. Para o mestre, somos, toda gente, artistas, mas algumas de nós serão artistas profissionais.
Do sujeito histórico aqui destacado, muitos coletivos têm/ mantêm sede própria, alugada, ou na ocupação de espaços ociosos, com sala ou galpão onde ensaiam e se apresentam. Nesses mesmos espaços muitos outros coletivos se apresentam e, sempre que possível, promovem e facilitam a realização de seminários, debates, palestras, mostras, cursos, intercâmbios e outras ações.
Coexistem modos de organização e de produção que valorizam o percurso criativo prático e a base teórica em processo de desenvolvimento do objeto artístico. O trabalho em equipe costuma ser bem sucedido quando dimensões estéticas e éticas convergem para uma poética. Para atingi-las, os artistas vão à luta por recursos e chamam o Estado a cumprir seu papel. Como mencionado acima e como aponta a pesquisadora e artista Maria Tendlau: “A história deste teatro feito em grupo nos mostra que tais conformações muitas vezes, são contingências das inviabilidades econômicas encontradas por tais coletivos ou pelos artistas que se reúnem nestes para se protegerem da incerteza de poder exercer seu ofício. E reconhecer isso significa igualmente questionar se o ideal da coletivização dos meios de produção desse teatro também não é um traço incidental e não necessariamente desejado ou construído.” (TENDLAU, 2010, p. 69-70)
No Estado de São Paulo, uma das iniciativas demarcatórias dessa fase foi o Encontro Brasileiro de Teatro de Grupo, organizado pela equipe do Fora do Sério na cidade de Ribeirão Preto. Com ênfase em espetáculos, o projeto atraiu dezenas de equipes em suas duas edições, em 1991 e 1993. Concomitante, em Belo Horizonte, foi criada a Associação Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, em 1991 e, posteriormente, o Redemoinho, de caráter nacional. Mas é na capital paulista que a urgência de políticas públicas para o Teatro de Grupo ganha o centro das discussões. O movimento Arte Contra a Barbárie catalisa artistas, produtores e pensadores a partir de 1998. O primeiro manifesto vem à luz em maio do ano seguinte e salienta alguns parâmetros:
O teatro é uma forma de arte cuja especificidade a torna insubstituível como registro, difusão e reflexão do imaginário dos povos que o exercem e dele usufruem;
É inaceitável a mercantilização imposta à cultura no país, na qual predomina uma política de eventos. É fundamental a existência de um processo continuado de trabalho e pesquisa artística;
Nosso compromisso ético é com a função social da arte de sensibilizar o olhar cotidiano e propor o encontro e a troca enquanto princípio das relações intersubjetivas;
A atual política oficial, que transfere a responsabilidade do fomento da produção cultural para a iniciativa privada, mascara a omissão que transforma os órgãos públicos em meros intermediários de negócios;
A cultura é o elemento de união entre os diferentes povos que constituem uma sociedade, e que pode fornecer dignidade e o próprio sentido de comunidade. É tão fundamental quanto a saúde, o transporte e a educação. É, portanto, prioridade do Estado (COSTA & CARVALHO, 2008, p. 21-22).
Fruto da perseverança dos grupos e marco das políticas públicas de cultura no país – também em contraposição à hegemonia da renúncia fiscal do patrocínio via Lei Rouanet, de 1991 -, o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo é instituído em 2002 (Lei 13.279). O seu artigo 1º afirma que o objetivo é apoiar "[...] a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado de pesquisa e produção teatral visando o desenvolvimento do teatro e o melhor acesso da população ao mesmo”. Como se lê na página virtual da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o Programa soma R$ 48,1 milhões em seus primeiros cinco anos de vigência, valor destinado a 192 projetos escolhidos por meio de edital e executados por 93 grupos, nos vários quadrantes da geografia paulistana. Centro e periferia se entrecruzam na circulação de espetáculos por palcos, praças e espaços não-convencionais (albergue, banheiro, trecho de um rio, vitrine de loja, cemitério, prédios abandonados...). Por intermédio de novos locais de apresentação de espetáculos, têm se ampliado os saberes e trocas cênicas, cuja linguagem se caracterizava inacessível à totalidade da população. Formam-se, conjuntamente, artistas e públicos, socializando e sociabilizando o acesso ao teatro e às reflexões propostas pelos núcleos artísticos no que concerne à construção de uma cidadania igualitária. Ampliam-se os dialogismos e os processos de cidadania. O teatro sem blindagens protetoras, evidentemente, exige e demanda o trânsito com novos conteúdos sociais que ampliam o uso e invenção de novos expedientes estéticos.
Sob o ponto de vista formal, uma das principais inovações do teatro de grupo é disseminar o ato de criar em colaboração, ainda que funções específicas continuem a existir. Não apenas decorrente dessas novas descobertas, o processo colaborativo, que desde sempre caracterizou as formas populares de cultura, vem sendo retomada de modos e invencionices surpreendentes. Na atualidade, é comum a presença da pessoa que desempenha a função de conceber a escrita criativa da dramaturgia na sala de ensaio, permeável às sugestões do conjunto criador.
Essa nomenclatura disseminada sobre o território nacional espelha subjetividades inerentes à cena, à política, ao dialogismo e a experimentação estética, como contextualiza o professor e pesquisador Alexandre Mate, no texto de apresentação do livro Teatro de Grupo na Cidade de São Paulo e Grande São Paulo criações coletivas, sentidos e manifestações em processo de lutas e de travessias. Eis como ele se refere ao Teatro de Grupo:
O Teatro de Grupo colige as práticas populares ressignificadas, sobretudo, por práticas experimentais desenvolvidas ao longo da história. Apesar de a gente que se autointitula gênio da raça não gostar desse tipo de filiação, as vanguardas históricas – e tantas práticas, de fato, geniais – caracterizam-se em evidência cabal dessa afirmação. Quem teve a oportunidade de assistir, de fato, aos espetáculos de diversos dos coletivos inseridos na categoria Teatro de Grupo (muitos dos quais presentes nesta publicação), consegue e pode avaliar a afirmação aqui apresentada. Obras de teatralidades e capacidades de invencionices e de harmonizações surpreendentes. Acresça-se a isso, ainda, a questão concernente a uma ética interna que regula as relações de trabalho e determina aquilo que precisa ser tematizado, como este trabalho deve se desenvolver, a quem – fundamentalmente – a obra coletiva pode interessar, em que espaços se apresentar, parcerias a serem feitas, temas a serem desenvolvidos e a partir de que pontos de vista. Em tese, além de o processo coletivo caracterizar-se em prática de trabalho e de existência, a obra criada de formas mais ou menos colaborativas – na condição de resultante de inúmeros e incontáveis momentos de discussão – representa sempre uma experiência de práxis mediada e tendencialmente sujeita a revisitações. Obra viva, tecida por meio de graus variados de clareza quanto ao seu existir estético, as produções do teatro de grupo, na medida em que politizam os sujeitos da criação, tendem, tantas vezes, a transcender o estético em direção ao ético. (MATE, 2020, p. 22)
O Teatro de Grupo no Brasil, em suma, ao cultivar a diversidade de gêneros e linguagens, conquista lugar no campo artístico das capitais, sem recuo do pendor para o experimento. Significativos prêmios e festivais já não o ignoram. A universidade e a imprensa tampouco, ainda que existam lacunas na análise desse período efervescente de mudanças de paradigmas, é uma referência no campo acadêmico.
Trata-se, pelo exposto até aqui, de um tipo de produção teatral comprometida com o seu contexto histórico, com pessoas do presente, do passado e do futuro, numa dicotomia de avanço e resistência permanente, atenta para encontrar outras vias possíveis que objetivam se contrapor ao rolo compressor do modo de produção vigente que impera e avança, quase aniquilando nossa capacidade de existência poética, amorosa, ética e solidária e diferentes modos.
Grupos e afirmação subjetiva de recortes sociais
Na diversidade e na singularidade dos grupos teatrais paulistanos a presença de grupos fundamental e discursivamente compostos de mulheres, de pessoas negras, de coletivos formados por imigrantes, por pessoas com deficiência (PCDs), por grupos de sexualidade e performatividade de gênero destoantes da heteronormativa, e por pessoas periféricas torna ainda mais necessária as políticas que visam reconhecer os riscos e ameaças em torno desses ajuntamentos afirmativos de recortes sociais minorizados pela normatividade a fim de pensar propostas que os salvaguardem, enquanto parte constituinte do que entende-se sujeito-histórico Teatro de Grupo da cidade de São Paulo.
Tal qual já foi abordado anteriormente neste documento, também os grupos que se percebem neste contexto territorial/corporal e histórico a que nomeamos de Coletivos de construção e afirmação de grupos sociais não são apenas conglomerados de pessoas que se reúnem em torno de um tema e de uma práxis momentaneamente, mas grupos permanentes de trabalho (com ao menos cinco anos de existência) que se compreendem na coletividade como sujeitos históricos tecidos e tecendo na trama das corporeidades, singularidades e potencialidades com e no fazer teatral.
Esses grupos, comumente denominados de “minorias” não ignoram em suas criações a materialidade e as subjetividades de suas corporeidades e ao resistirem na prática teatral e na intrínseca pesquisa continuada, acabam por subverter as supostas precariedades em potências criadoras. Precárias são, portanto, as condições de exclusão em que esses grupos são inseridos por questões de classe, mas não somente.
Além das questões de classe, percebe-se de maneira preponderante, seja nas corporeidades dos grupos, seja em sua poética ou mesmo em temas diretamente travados a recusa e a crítica à sociedade heteronormativa, machista e generificada como formas de potência. Ou seja, existe conscientemente, por parte desses Grupos assim identificados um discurso político e uma militância, ainda que não partidária que habita também as corporeidades.
O discurso político que “habita os corpos”, conforme afirma a filósofa Judith Butler, se reflete em potências criadoras voltadas para as produções teatrais, mas também potências performativas em torno dos corpos. Desse modo, há um olhar para cada pessoa habitante do coletivo e para as suas singularidades mas compreendidas dentro de uma história e como habitante dessa coletividade que é o (sujeito, sujeite, sujeita) teatro de grupo.
Ressaltamos, porém, que o fato de reconhecer as potências criadoras que a re-existência de coletivos que se constituem como lugar de construção e afirmação de subjetividade de determinados grupos sociais provocam no teatro de grupo não nos coloca na posição de defesa da continuidade de sua precariedade. Sabemos que suas práticas estão ligadas ao como estas expressões corporais se manifestam na sociedade, a história e memória de suas lutas e pautas, e essas sim influenciam e emprestam aos seus fazeres subsídios que movimentam e atualizam o que entendemos por pesquisa e estética do Teatro de Grupo. Nosso intuito aqui é, portanto, garantir a continuidade de suas contribuições, ameaçadas pelas violências cotidianas manifestas de diferentes formas.
Concluindo esta tipificação, compreende-se também um grupo teatral formado predominantemente por pessoas que se autodeclaram nessas condições porque encontram dificuldades para resistir em seu fazer por questões que se referem à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, ao porte de necessidades especiais, e também pessoas que se encontram nas margens das lógicas de produção capitalista como pessoas velhas e mães com crianças e bebês, ou mesmo imigrantes.
Nessa perspectiva, destacamos como fator observado nos grupos identificados a presença predominante: de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas periféricas, de indígenas e de quilombolas, de grupos de imigrantes, de lésbicas, de gays, de bissexuais, de transexuais, de transgêneros, de travestis, de pessoas queer, de pessoas intersexo e outras orientações e definições sexuais além de corpos-sujeitos gênero fluindo e em processo.
Para que haja um olhar para esses “grupos minorizados” e seus saberes, fortalecendo a si mesmos enquanto parte do patrimônio imaterial dos Grupos Teatrais da cidade de São Paulo, destacamos que esses grupos levam em conta que o sujeito Teatro de Grupo é formado na fri(c)ção com as singularidades de cada pessoa e dos conflitos que ela vivencia enquanto identidade conhecida ou passível de experimentação. Assim, os grupos que se encontram envoltos por esse modo de existir podem se reconhecer nos parâmetros já citados e que serão melhor descritos abaixo:
Grupo teatral formado predominantemente por mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas periféricas, indígenas; quilombolas, grupos de imigrantes, de lésbicas, de gays, de bissexuais, de transexuais, de transgêneros, de travestis, de pessoas queer, de pessoas intersexo e outras orientações sexuais e identidades de gênero fluindo e em processo (LGBTQIA+).
Grupo realiza pesquisa continuada que contém de recortes sociais multiplamente observáveis: desenvolve um trabalho de pesquisa continuada na linguagem teatral há pelo menos 03 anos. Este trabalho não carece estar voltado para nenhum tema específico (já que o grupo é livre para abordar os temas que necessita), no entanto, são observáveis elementos em torno das questões de recorte social presentes de diferentes maneiras: por exemplo, de integrantes do grupo, ou é possível observar que o grupo não ignora aspectos de recorte social na cena teatral, ou em seu processo de criação, ou na relação pedagógica estabelecida, ou na relação com a comunidade em que atua, etc.
Para se entender os parâmetros gerais
Mesmo repetindo algumas questões anteriormente apresentadas, um coletivo ou grupo, na acepção do sujeito histórico enquanto prática cultural, ou ainda, práxis, compreende um processo de sujeitos com alguma autonomia que, mesmo na diferença e com algumas discordâncias, têm consciência de si em processo público e coletivo e unem-se nas questões centrais e fundantes do estar no mundo, tomando como ponto de vista e ação, entre outras, as lutas sociais, as lutas pela sobrevivência, pela memória e as disputas de narrativa simbólico-estéticas. Esta visão não deve ser associada de modo idealista ou idealizado, uma vez que a convivência em atos concretos é complexa, e pressupõe um exercício em continuidade.
O Teatro de Grupo está identificado a uma práxis poético-militante-ético-colaborativa na qual se coadunam ações teatrais para além do espetáculo, vínculos com as comunidades e territórios afins, acontecimentos históricos, processos de luta e de avanço subjetivo e cultural, assim como formas colaborativas, caracterizando-se como um modo de fazer e de sobreviver experimentado por artistas criadores que se reúnem em um núcleo artístico no qual colocam sua força de trabalho a serviço de uma visão de mundo que compartilham. Suas práticas ocorrem como alternativa para enfrentar e resistir, de modo grupal, às dinâmicas hegemônicas que têm na lógica da mercadoria seus fundamentos, numa sociedade marcada por profundas diferenças de classe e consequentes desigualdades, na qual artistas de alinhamento com propostas artísticas críticas são historicamente tem suas identidades poéticas lançadas à margem. Essa marginalidade e exclusão encontra seus iguais, tece e costura em conjunto a construção autônoma, autogerida, ampla e horizontal do teatro e facilita o acesso da população ao mesmo, tarefas não cumpridas pelo produto-mercadoria teatral.
O Teatro de Grupo pressupõe uma ampla gama de diferentes formas de trabalho e organização – sendo cada pacto de trabalho um conjunto específico de possibilidades de produção.
Um coletivo ou grupo é construído como um organismo vivo, inquieto, em permanente e dialético processo de revisitação, cuja determinação básica tem um aterramento histórico evidente (sobretudo próximo, local e contemporâneo), alicerça-se e organiza-se a partir de relações colaborativas, sem rigidez hierárquica e distantes dos procedimentos autocráticos; que busca aproximar diferentes grupos de sujeitos com objetivos, olhares e perspectivas estético-político-sociais mais harmonizadas e sempre propensas às discussões e revisitações de conteúdos significativos; que se propõe a desenvolver projetos que compreendem, também, a produção de espetáculos, mas, e mesmo nesse caso, não se dedica à criação de produtos que se esgotam em si e que vislumbram o lucro; que entende o teatro não como algo em si, mas como um organismo vivo ao seu tempo e às comunidades de que venham a fazer parte ou aos seus “territórios de aterramento” (que compreendem a localidade onde o coletivo tem o seu epicentro, com ou sem uma sede própria); que entende a linguagem teatral e o espetáculo não como um ponto de chegada, mas, fundamentalmente, como um ponto de partida para o entrecruzamento de múltiplas tarefas e avanços comunitários.
A práxis do teatro de grupo suscita a busca e experimentação de outras formas de criar e de se relacionar, de outros modos de existir e de viver, coletivos e solidários, que sejam utopias reais, passíveis de experimentação e nas quais se possa pensar a construção do teatro em relação profunda com a vida da gente e da cidade, vivendo-o e construindo-o em presente digno e, quiçá, em futuros transformados nos quais pessoas encontrem justiça social, sentido de comunidade e respeito à natureza, valores que, estes sim, esperávamos que uma economia apoiasse.
Porém, a mais importante diferença em contraponto às obras hegemônicas concerne à consciência de que a forma de produção do teatro de grupo resolve, processa e opera paradigmas hegemônicos. Inclui-se aqui o criativo no que diz respeito principalmente ao resultante da multiplicidade e complexidade dos processos coletivos onde, por meio de atravessamentos aos interesses singulares dos indivíduos que constituem os coletivos. O teatro de grupo na cidade de São Paulo traz às distintas consciências que tem contato com sua prática, como integrantes e/ou espectadores, o fato de sermos e estarmos na periferia do mundo, e isso se caracteriza também como aspecto significativo em sua construção coletiva.
Uma síntese possível seria entendermos que cada coletivo opera de uma forma diferente, existindo uma imensa polifonia quanto às conformações do Teatro de Grupo. Porém, como parte e além de sua significativa e contra-hegemônica criação estética, épica, existem pressupostos que se expressam como eixos fundamentais definidores em suas práticas. Entre eles destacam-se a ausência do patrão, a horizontalidade do teatro, por seu fazer e em sua fruição, e como a organização coletiva, colaborativa e horizontal que estendem à sociedade sentimentos e ações delineados pela cooperação, coletividade, igualdade e solidariedade; são como forma de enfrentamento à hegemonia do mercado, com seus olhos exclusivos sobre os imperativos do lucro, do privado e do individualismo, como se esses fossem interesses comuns de toda a sociedade.
Parâmetros geraisO teatro de grupo colige ações político-sociais mais amplas a processos organizacionais, como um sujeito do processo em permanência de ações em continuidade e insistências.
Existe uma unidade no trabalho permanente do grupo, buscar um teatro com independência em relação tanto aos mecanismos do mercado, como ao regime do gosto estabelecido. Em suas pesquisas continuadas, os núcleos artísticos estabelecem novas possibilidades criativas quanto à cena e, simultaneamente, dão continuidade aos gestos dos grupos teatrais que existiram (e não apenas) na cidade de São Paulo.
A tese de preservar espaços de autonomia é um forte traço que caracteriza os coletivos aqui em destaque e representa um impulso chave para os grupos, uma crescente liberdade de expressão e uma evidente facilitação de meios de difusão e produção.
O processo continuado de trabalho e pesquisa artística é fundamental na definição do Teatro de Grupo. Nesse sentido, ocorre certa permanência de integrantes do núcleo artístico estável, bem como convivendo com colaboradores eventuais que se aproximam para a realização de ações e atividades específicas, sejam sujeitos individuais ou outros núcleos artísticos.
A conformação dos coletivos, muitas vezes, muda de acordo com sua trajetória, mas existe uma continuidade de trabalho com a permanência de integrantes que criam conexões com tais trajetórias e o projeto artístico-político-pedagógico do grupo, evitando a reunião de um elenco para um único trabalho sem equidade, sem a perspectiva do passado e de possível continuidade. Dessa forma, percebe-se as dimensões desses núcleos bem visíveis, embora geralmente esfumaçadas, como característica.
Não se pode confundir pequenos produtores descapitalizados travestidos de grupo que criam ajuntamentos provisórios com o referido sujeito histórico, uma vez que o teatro de grupo se contrapõe à lógica da cultura como mercadoria, ou evento, nos quais não há engajamento dos artistas, se dando de forma alienada, sendo os mesmos dispensados após o consumo final do produto.
Na dinâmica do teatro-mercado, o conjunto criador será contratado e receberá um pagamento para realizar determinada função, à semelhança de trabalhadores/ trabalhadoras de qualquer linha de produção. Trabalho alienado, com pouca ou nenhuma possibilidade de ter acesso/ conhecimento ao todo.
Os grupos teatrais identificados com esse modo de produção e organização firmam suas posições de divergência em relação ao teatro empresarial, comercial e mercadológico, contrapondo-se às formas competitivas, predatórias e mercantilizadas nas quais tudo vira mercadoria, inclusive o teatro. A consciência política evidencia que teatro colaborativo e democrático não se caracteriza em mercadoria subserviente (na condição de cópia) aos modelos hegemônicos.
Na experiência do Teatro de Grupo, a participação está aberta, o tempo é expandido, os processos criados e recriados, as relações construídas. O tempo aqui é o campo do desenvolvimento humano, do aprimoramento das relações, das capacidades criativas, de descoberta e consolidação das linguagens, bem diferente do tempo das demandas da produtividade.
Os coletivos se constituem como lugar de afirmação subjetiva, instrumento de coesão de projetos coletivos que prezam pela multiplicidade e singularidades, ao mesmo tempo em que existe uma unidade nesse todo que caracteriza cada grupo.
As relações no Teatro de Grupo tem uma natureza mais basista (em razão de todas as deliberações dependerem dos acordos e negociações de coros), em proposição menos autocrática. Em tese, mesmo que existam funções específicas no coletivo, as decisões buscam as deliberações e acordos de consenso ou, em casos mais radicais, a maioria.
Mesmo que haja artista totalmente só em cena, se a construção e apresentação das obras surgiram a partir de princípios coletivos, plurais, corísticos e classicistas determinados; além disso, com sua materialidade afigura-se de modo poroso também do ponto de vista de recepção: manifestação se fazendo em processo de partilha. Então, essas obras se fazem e se apresentam em processo colaborativo mesmo na aparente ausência de mais integrantes, posto que um solo não dispensa a participação de outros trabalhadores.
São múltiplas as formas das produções teatrais dos grupos, em se tratando também dos próprios discursos que sustentam essas práticas. As experiências teatrais passaram a ser levadas em buscas por novos encaminhamentos estéticos e modos de intervenção na cidade por meio da linguagem teatral.
Quando um grupo criador se organiza de forma coletiva para construir suas proposições artísticas, lança mão da própria força de trabalho, dispensando as relações patronais e eventuais, optando, sempre que possível, pelas experiências colaborativas duradouras. Tal determinação faz com que os sujeitos da criação coloquem em sua práxis toda a sua capacidade física, intelectual e criativa para construir uma obra que faça sentido e por meio da qual se reconheça afirmativa e subjetivamente, criando vínculos e aproximando pessoas.
Mesmo havendo algumas diferenças estéticas, táticas, no uso de expedientes, seleção de conteúdos, o espetáculo tem uma destinação mais corística e polifônica, constituindo-se não para apresentar “uma” ou “suas verdades”, mas para evidenciar pontos de vista diferenciados sobre um determinado objeto histórico-social. Ao transbordar as formas mais doutrinadas, de paradigmas ditos “universais”, o espetáculo pode propor novas qualidades relacionais e com os objetos/assuntos da contemporaneidade.
A explosão criativa não se deve apenas ao surgimento de diversos grupos (por volta de 200 na cidade de São Paulo), mas se realiza nas invencionices, nas ousadias formais, possíveis por intermédio dos expedientes do teatro épico e experimental. Trata-se de uma produção – evidentemente repleta de conflitos e contradições, e não apenas com relação às questões externas - potencialmente transformadora de quem faz e de quem assiste.
Existe no sujeito histórico Teatro de Grupo - tipo de relação dialética entre o poético e a estrutura social, recíprocas influências que se condicionam de forma mútua – que o empurram para a crítica e a mudança e não para a conservadora reprodução do estabelecido. Tal procedimento, de modo mais ou menos explícito, tende a criar obras na contramarcha dos teatros mercadoria, buscando questões urgentes e necessárias de serem enfrentadas, que ultrapassam os processos de disputa de narrativas.
No teatro de grupo o treinamento do sujeito da prática atoral se caracteriza em “um forte traço dos coletivos”, sendo muito difundida como ferramenta do processo criativo, não se limitando a determinadas técnicas de atuação, e com o passar do tempo contemplando o leque de integrantes dos coletivos para além daqueles e daquelas que atuam dentro da cena. A diversidade de práticas formativas internas é enorme e renovada constantemente a partir dos processos de pesquisa continuada dos grupos, que constituem, assim, uma prática estrutural e não apenas funcional para determinados espetáculos.
As práticas formativas coletivas são fundamentais para a construção do projeto de grupo, envolvem outras linguagens artísticas, questões técnicas, pedagógicas, históricas, políticas, econômicas, éticas, entre outras. Porém é importante destacar que no grupo, o papel atoral não se limita à interpretação ou representação, mas passa pela definição do que fazer, como fazer, quando, onde, para quem, passa pela dramaturgia, iluminação, sonoplastia e uso de instrumentos musicais, divulgação, produção de adereços, cenários, figurinos, contatos e reuniões externas, participação em movimentos, etc., etc.
Também é comum a participação em fóruns, palestras, vivências, seminários ou a necessidade de ministrar oficinas e cursos, atendendo a demandas externas ou mesmo como forma não só de socializar conhecimento mas também de aprender/aprimorar a formação do próprio grupo. A prática pedagógica é uma vivência que extrapola os limites da sala de ensaio.
Do ponto de vista da formação, os grupos de teatro exercitam procedimentos pedagógicos alicerçados em suas práticas e reflexões sendo diretamente em ações educativas como oficinas, fóruns, palestras, vivências, seminários, entre outros, mas também em suas produções artísticas. Nesse sentido, buscam se comunicar com o público e possibilitar o acesso à linguagem teatral e às discussões quanto às questões estéticas, políticas e sociais recontextualizadas e absolutamente urgentes. Além disso, os coletivos exercitam a difusão da linguagem e a participação por meio de processos de experienciação com a linguagem em oficinas e cursos nas variadas áreas que compõe cada coletivo e que coexistem na técnica e na criação.
Nas criações artísticas dos coletivos a recepção teatral tende a ser encarada como inserida e constitutiva do ato criativo: processos de troca devem estimular a revisitação da criação pelo próprio coletivo ao longo do tempo. Ainda que a designação não seja absolutamente “correta” neste particular é possível usar o conceito de espectância ativa que irá incidir nas obras, sobretudo em razão do espetáculo teatral se caracterizar em “um espaço de vacância”, aberto e propositivo de interações em um jogo expandido entre cena e público.
A partir das influências do teatro de experimentalismo e dos fundamentos organizacionais do teatro épico, os coletivos buscam redimensionar o trabalho estético, e imaginar o espetáculo não mais encerrado em si mesmo (evidentemente, tal proposição tem também o seu valor), sem convenções apartantes como a quarta parede, a exigência de silêncio, as luzes apagadas, a constituição e regramento de uma plateia... O fenômeno teatral praticado pelo teatro de grupo pode, assim, ganhar outras determinações decorrentes de uma “obra viva”. Inúmeras novas e intercambiantes possibilidades são presenciadas nas criações dos coletivos da cidade (e não apenas) de São Paulo, redefinindo as funções estético-históricas e sociais da linguagem teatral.
A comunicação é um princípio fundamental nas práticas dos grupos, um compromisso em dialogar com territorialidades, com diversas comunidades, relacionando e interagindo sua pesquisa com o público, que está em relação com suas práticas e produções. Há a inserção de coletivos em diversos bairros espalhados pela cidade de São Paulo mediante a abertura de sedes, mas também por ações locais sem espaço próprio. As sedes são espaços destinados a ser lugar de treinamento, reunião e administração a partir do qual os grupos articulam seus projetos espetaculares e pedagógicos em diálogo com seu público.
Do ponto de vista político-ideológico dos coletivos do teatro de grupo é absolutamente importante entender o conceito pressuposto pelo vocábulo político/política como uma atenção sensível e crítica às questões fundamentais de contextos históricos e relacionais específicos e determinados. A consciência política pressupõe militância (não necessariamente partidária) e comprometimento com causas cuja ação destina-se – de diferentes modos – a aplacar os sem números de injustiças de poucos sobre a maioria. Sem querer estender o assunto, o sujeito histórico Teatro de Grupo, no mínimo e inicialmente, envolve-se com questões sociais significativas e coloca-se ao lado das gentes (de suas comunidades ou relações próximas) em alguns de seus processos de luta. Mesmo no espetáculo, um tema de abrangência social amplo e significativo, não nos esqueçamos, pode se caracterizar em um processo militante.
O teatro de grupo tem no entendimento da função social do teatro, em sua dimensão pública, seu ideário e seu compromisso ético, relacionando-se em conexão estreita com as lutas históricas e coletivas de seu tempo, registrando-o e revelando-o. O teatro, na perspectiva aqui apresentada, se caracteriza em instrumento de questionamentos, reflexões e de transformação social para explicitar as contradições dos mecanismos dominantes e desvelar os sujeitos invisibilizados que esse sistema econômico exclui e esconde, e para o qual o único valor é seu imperativo de lucro, o que torna essa modalidade – o teatro de grupo – uma possibilidade autogestionária concreta, uma saída estratégica à esquerda, para se mover de modo anticapitalista na busca por alternativas melhores de sobrevivência e de existência no ofício de uma produção teatral engajada (à esquerda), solidária, fraternal e democrática. Nesse sentido, há um esforço evidente na direção da ampliação horizontal do acesso ao teatro e às reflexões propostas pelos núcleos artísticos no que concerne à construção de uma cidade igualitária.
Para os coletivos alinhados com a forma de produção do Teatro de Grupo existe a necessidade de criar, gerar, estabelecer e manter relações de parcerias múltiplas no campo dos intercâmbios político-culturais. Elas se configuram, muitas vezes, como idas a novos espaços e convites para outros coletivos se apresentarem nos locais onde, eventualmente, cada grupo possa estar “aterrado”, bem como nas trocas materiais de equipamentos, peças de seus acervo de cenário e figurino, entre outras.
Apesar de, metaforicamente, um grupo se caracterizar na condição de uma ilha, o conceito pressupõe a consciência de arquipélago. Ou seja, apesar de desenvolver um trabalho na maior parte do tempo em um determinado território, o Teatro de Grupo circula entre outros espaços, sobretudo aqueles que içam e impunham as mesmas bandeiras.
Para além do teatro, a partir do diálogo com diversas iniciativas, entidades e coletivos, existem entrelaçamentos com ações de cunho social estabelecendo nesta integração propostas que unem aspectos artísticos, culturais e sociais no sentido sociocultural.
Sínteses do teatro de grupoDe forma geral, o Teatro de Grupo da cidade de São Paulo, caracterizado pela historicidade e conceituação aqui propostas no Plano de Salvaguarda, se configura como uma experiência/construção histórica, em andamento , e contra-hegemônica, cujo núcleo é expresso em sua práxis pela sua forma de organização e trabalho; em sua estética e pela relação com o público, no duplo sentido da palavra, como espectador e aquilo que é de interesse comum, não privado.
Abaixo os pontos adicionais que colaboram para a composição de um quadro-síntese característico dos coletivos do sujeito-histórico teatro de grupo da cidade de São Paulo:
a. Pesquisa artística continuada sedimentada ao longo do tempo:
a.1 Grupos de teatro novos sendo caracterizados com pelo menos 03 anos de trabalho contínuo e 01 montagem teatral com frequência de apresentações/circulação;
a.2 Grupos de teatro com trajetórias de atividade maiores do que 03 anos contando com pelo menos 02 montagens teatrais, sendo considerados os últimos 05 anos como marco de contagem;
a.3 Caso o grupo esteja com atividades suspensas nos últimos 05 anos, o mesmo não constará na listagem dos coletivos em atividade na cidade. Porém, continuará pertencendo a um registro histórico, podendo retornar ao levantamento de grupos em atividade caso reative e comprove suas atividades continuadas a pelo menos 02 anos.
b. Forma coletiva de trabalho em seus processos de criação, produções e gestão;
b.1 Existência de um núcleo estável, composto por pelo menos 02 integrantes estáveis nos últimos 03 anos para grupos novos e no mínimo 05 anos para grupos estáveis;
b.2 Práticas solidárias e de cooperação entre integrantes do coletivo;
b.3 Gestão colaborativa realizada principalmente pela totalidade de artistas integrantes, sem estabelecer relação patronal, com acertos inclusive sobre a divisão socializada de ganhos, perdas e do capital simbólico
c. Multiplicidade das produções artísticas, continuamente identificadas com a presença da crítica social, reflexão e/ou memória social;
d. Continuidade de práticas formativas internas voltadas aos integrantes do coletivo ao longo de sua trajetória;
e. Práticas pedagógicas relacionadas à formação continuada do núcleo artístico e compartilhamento de saberes com o público, constituindo redes de relações como cursos, oficinas, palestras, vivências, seminários, ensaios abertos, rodas de conversa, entre outros;
f. Diálogos com o público em suas variadas formas, no sentido da elaboração e intencionalidade do ponto de vista da recepção teatral de seus espetáculos e ações.
g. Relações e expressões enraizadas, descentralizadas e territorializadas, fortalecendo vínculos comunitários para reafirmar o compromisso com uma cidade justa, igualitária e humana;
g.1 Participação do grupo nas lutas políticas e reivindicatórias do seu tempo;
g.2 Ampliação horizontal do acesso ao teatro e às reflexões propostas pelos núcleos artísticos no que concerne à construção de uma cidade igualitária.
h. Intercâmbios culturais em redes alternativas de colaboração, com objetivo de cooperação e desenvolvimento mútuo no ato de partilha entre coletivos, movimentos, instituições de forma ampla nas práticas de trocas com distintas culturas.
Parte 02 – LEVANTAMENTO DOS GRUPOS DE TEATRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Por meio dos levantamentos realizados foram identificados 197 grupos de teatro atuantes na cidade. A expressividade numérica dessa prática cultural no município justifica, assim, a afirmação de Alexandre Mate (2021), de que São Paulo é o epicentro das experiências teatrais que buscam novos caminhos estéticos e diversas formas de intervir na realidade dos diferentes lugares. São práticas inovadoras que se constituíram no diálogo com os diferentes contextos socioespaciais locais e, muitas vezes, em íntima relação com o patrimônio cultural material, o que permite problematizar as políticas públicas de preservação diante do processo de produção da cidade.
Foram produzidas fichas de caracterização para cada um dos grupos contendo informações como data de fundação, localização na cidade, número de integrantes, apresentações realizadas e um breve histórico (em anexo). As fichas foram elaboradas a partir de ampla pesquisa na internet (redes sociais, jornais e outros sites) e de bibliografia especializada, principalmente o trabalho de Mate e Aquiles (2020). Também foi realizada uma chamada pública pelo DPH, em dezembro de 2021, com objetivo de coletar mais informações a partir de um convite para que os próprios grupos respondessem às perguntas formuladas em um questionário virtual.
A partir das informações das fichas foi elaborada uma planilha geral com informações essenciais que serviu de base para a tabulação de dados apresentada aqui (planilha, gráficos e tabelas completas em anexo).
Busca-se com esses dados apresentar um quadro geral que possa caracterizar a prática cultural realizada na cidade e, assim, subsidiar as políticas de proteção deste bem cultural registrado.
São apresentadas a seguir as análises relativas à tabulação de dados nos seguintes aspectos:
existência de sede
proteção legal das práticas e proteção legal das sedes
ano de fundação dos grupos
número de integrantes
grupos com recorte étnico-racial, de gênero e de sexualidade
Existência de sede
O espaço físico para a realização da prática cultural Teatro de Grupo se coloca como condição essencial para as várias etapas do processo de criação artística: das atividades de planejamento, concepção e organização, à função de guarda de equipamentos e acervo, mas também realização dos ensaios e da elaboração coletiva até, finalmente, as apresentações ao público. Acrescenta-se ainda o fato de que os grupos têm uma atividade pedagógica de formação e multiplicação de novos grupos, fator que garante a continuidade das práticas culturais no tempo e, nesse sentido, as atividades como oficinas e cursos também são parte da rotina que demanda um espaço fixo.
Neste sentido, o espaço físico desempenha um papel fundamental na vida do grupo. Considerando que a essência do Teatro de Grupo é o seu enraizamento no território, como o lugar que alimenta as práticas, o espaço físico não tem o sentido de mera localização na cidade. Seu significado atrela-se à própria trajetória no cotidiano do grupo e à forma como ele desenvolve suas atividades de criação em diálogo com esse território. O espaço físico incorpora-se, assim, no fazer artístico.
No relatório elaborado a partir de consulta aos grupos (SOUZA, 2021), são relatados os vários problemas em relação ao espaço físico, tais como: dificuldade de encontrar locais para ensaio e teatros com valor acessível; dificuldade de uma obter uma sede definitiva para ensaios, apresentações, oficinas, palestras, acervo de materiais; endividamento pelo valor do aluguel que compromete os recursos do grupo; ameaças de despejos de imóveis alugados; valorização imobiliária dos bairros que vai tornando inviável a permanência nos bairros.
Neste sentido, os dados encontrados na pesquisa sobre a situação dos espaços físicos reforçam esses riscos apontados pelos grupos, os quais ameaçam a continuidade das práticas culturais. No gráfico 1, constata-se que é ínfimo o número de grupos que têm uma certa estabilidade pela disponibilidade de sedes próprias, ou seja, 5,6% que representa apenas 11 grupos.
O gráfico 1 mostra que a maioria dos grupos não dispõe de sedes fixas e próprias, ou seja 52,8% que representa 104 grupos. Por outro lado, mesmo aqueles que possuem sedes alugadas, que são cerca de 14,2% ou 28 grupos, estão vulneráveis aos fatores elencados anteriormente, relativos ao alto custo do aluguel como despesa ou a pressão imobiliária que os expulsa dos bairros. Há, ainda, um número elevado de grupos sobre os quais não conseguimos informação, o que pode agravar mais este quadro de vulnerabilidades.
Gráfico 1: Tipos de sede segundo a propriedade.
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
Como exemplos concretos desses riscos destacamos o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, com 22 anos de experiências teatrais e que, em novembro de 2014, foi despejado de sua sede alugada, um galpão no bairro da Pompéia. O imóvel foi vendido a uma incorporadora, em 2013, sem ter sido dada preferência ao grupo que alugava, tendo sido construído no local um condomínio residencial.
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Fotos 1 e 2: antiga sede do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, no dia do despejo forçado. Fonte: (1) https://teatrojornal.com.br/2014/11/nucleo-bartolomeu-e-despejado-de-sua-sede/ e (2) https://noticias.r7.com/sao-paulo/grupo-de-teatro-e-despejado-em-sp-outros-19-estao-ameacados-27112014. Acessado em 19/10/2022.
Em janeiro de 2022, outro grupo de teatro, a Cia. Pessoal do Faroeste, também foi despejado do imóvel que ocupava no bairro da Luz. Nesse espaço o grupo desenvolvia, há 24 anos, atividades teatrais com as quais receberam diversos prêmios e, também, ações sociais, entre elas as campanhas #FomeZeroLuz e #SopãoDaLuz. As dificuldades com o pagamento de aluguel já haviam sido, em 2018, contornadas com a campanha #FicaFaroeste e com os recursos do Programa Municipal de Fomento ao Teatro. Segundo Paulo Faria, diretor do grupo: “Foram décadas de trabalho duro no local, com muita doação não só pela arte em si, mas por toda a região. Lamento muito por não recebermos apoio para seguirmos fazendo nosso trabalho, que impactava centenas de pessoas, e agora a única certeza que fica é que seguiremos com nossos propósitos adiante, independentemente de onde estivermos”. Em virtude disso, o grupo mudou-se para a cidade de Belém do Pará.
O impacto da perda de espaços físicos ocupados pelos grupos não se restringe a simples mudança de endereço, mas interfere na relação histórica e cotidiana construída no território. Portanto, a segurança jurídica para a permanência é uma das questões que devem ser consideradas na elaboração de ações de salvaguarda.
Mapa 1: Localização das sedes (atualizado em outubro de 2022)
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: Cenogram e Mosaico EMAU.
Em relação à localização das sedes, o mapa 1 revela que a maior concentração se encontra na Subprefeitura da Sé, principalmente nos distritos da Bela Vista, Santa Cecília, Bom Retiro e República, área que compõe o TICP Paulista-Luz (Território de Interesse da Cultura e da Paisagem). O TICP é um instrumento importante do Sistema Municipal de Patrimônio que pode contribuir para a proteção e valorização deste bem cultural.
Há um segundo polo de concentração nos distritos a oeste, tais como Lapa, Barra Funda e Perdizes. Importante destacar que há ainda um circuito periférico de Teatro de Grupo que envolve as zonas sul, leste e norte, mostrando que essa prática cultural está presente em todas as regiões da cidade.
Proteção legal das práticas culturais e dos espaços físicos dos grupos
Em relação aos instrumentos de proteção do patrimônio imaterial e outras formas de acautelamento como inventários e levantamentos de identificação, conforme estabelece o artigo 216, § 1º, da Constituição Federal, a pesquisa identificou que uma ínfima parcela do total dos grupos atuantes têm algum nível de proteção, ou seja 18,78%, que representa 37 grupos (ver Tabela 1, a seguir). Cabe lembrar que mais de um instrumento de proteção pode incidir sobre o grupo de teatro ou seu espaço físico.
Destaca-se aqui que os instrumentos de proteção das práticas culturais considerados foram: Registro do Patrimônio Cultural Imaterial e aqueles indicados na plataforma Geosampa (Prefeitura do Município de São Paulo) como “bens protegidos”, tais como o Selo de Valor Cultural e Inventário Memória Paulistana. Em relação ao Selo de Valor Cultural, a Resolução Conpresp 35/2015, estabeleceu que é “um instrumento de preservação cultural, o qual classifica um local de reconhecido valor de referência comercial, residencial, cultural, institucional, arquitetônico, gastronômico, entre outras atividades, ou um local de referência como expressão da identidade cultural e social de grupos de indivíduos.” Em relação aos outros dois instrumentos, Inventário memória Paulistana e Levantamento memória e Verdade, a própria plataforma geosampa os classifica como “patrimônio cultural-bens protegidos”, razão pela sua inclusão.
Tabela 1: Instrumentos de proteção (dos espaços e práticas) para Grupos de Teatro.
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
Em relação ao Registro como Patrimônio Imaterial, realizado em 2014, que abrangeu apenas 13 grupos de um total conhecido hoje de 197, ou seja apenas 6,6%, os números indicam que foi insuficiente para abranger a diversidade e a importância das práticas do Teatro de Grupo. Além disso, não ficaram claros nesta oportunidade, os critérios adotados para a indicação desse pequeno número, que inclui até mesmo experiências que não são identificadas ao conceito de Teatro de Grupo já apresentado aqui.
Neste sentido, reconhece-se aqui a necessidade de ampliar a proteção legal do conjunto das práticas culturais chamadas de Teatro de Grupo, de forma a incorporar os diversos detentores desse patrimônio imaterial que se encontram inventariados neste estudo. Dessa forma, entende-se que o registro de Patrimônio Imaterial deve ser revalidado compreendendo a prática, e não nominal a grupos ou espaços como feito anteriormente pela Resolução 23/2014.
Em relação à proteção dos espaços físicos (sedes), tem-se como instrumentos de preservação o tombamento em suas diferentes instâncias, seja municipal, estadual ou federal (Conpresp; Condephaat; Iphan). O tombamento é um instrumento que, em teoria, impede a demolição de uma edificação, mas não limita a possibilidade de intervenções físicas, que podem ser realizadas com a devida autorização dos órgãos de patrimônio. Neste sentido, é um instrumento que garante a permanência no tempo das edificações que são sedes dos grupos, servindo, de certa forma, de proteção, também, para as práticas culturais, principalmente se levarmos em conta que o espaço físico é uma das condições essenciais para a manutenção e reprodução do patrimônio imaterial.
No entanto, as informações levantadas mostram que são ínfimos os grupos que podem contar com esse nível de proteção. Há apenas um grupo de teatro que possui sua sede tombada, o Teatro Oficina, protegido nas 3 instâncias de patrimônio. Há mais 6 grupos que têm suas sedes tombadas em níveis estadual e municipal, representando esse conjunto que tem sedes protegidas apenas 3% do total dos grupos.
Há também outro instrumento que pode incidir sobre imóveis que funcionam como sedes para os grupos: a área envoltória de bens tombados. Embora a função da área envoltória seja proteger a visibilidade, destaque e ambiência do bem tombado e não propriamente as sedes e as atividades dos grupos, considerou-se aqui que o recurso à área envoltória pode ser um elemento diferencial em relação a sedes que não tem quaisquer incidências de legislação protetora.
Nesta categoria encontram-se 34 grupos de teatro que possuem suas sedes em área envoltória de bens tombados e que, portanto, qualquer intervenção física nestes imóveis necessitaria de autorização prévia dos órgãos de patrimônio. É importante ressaltar novamente que isso não implica necessariamente em preservação da sede, mas apenas uma situação diferencial em relação às outras sedes.
Tabela 2: Sedes de grupos situadas em área envoltória de bens tombados
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
No conjunto, somando a proteção das práticas e dos espaços físicos, a tabela 3, a seguir, mostra que são poucos os grupos de teatro que possuem algum nível de interface com a proteção legal: apenas 36 grupos, o que representa cerca de 18,3% do total.
Tabela 3: Proteção legal das práticas ou dos espaços onde se realizam
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
É muito preocupante o fato de que, apesar destes diversos instrumentos de identificação e proteção existentes hoje, a maioria dos grupos encontra-se sem qualquer tipo de legislação de preservação, ou seja, 161 grupos que representam 81,7% do total. Isso reafirma a importância da elaboração de um conjunto de medidas de salvaguarda presentes neste Plano. O nível de proteção identificado relaciona-se tanto às práticas, como em relação aos espaços (sedes) ocupados por elas, os quais, se forem protegidos, podem garantir a continuidade do patrimônio imaterial.
Ano de fundação dos grupos
Os dados sobre o ano de fundação dos grupos em atividade permitem ilustrar o que já foi apresentado anteriormente em relação ao histórico da prática cultural, mostrando que, embora as raízes do Teatro de Grupo estejam situadas em um horizonte temporal anterior, a década de 2000 aparece como um momento de grande fortalecimento e expansão das práticas culturais do Teatro de Grupo.
Observa-se, assim, na tabela 4 e no gráfico 2, que há um momento inicial, entre os anos 1950 e 1960, em que aparecem experiências pioneiras com o Teatro Oficina (1958) e o TUOV (1966), sendo apenas 2 grupos nessas décadas; seguido de um momento de crescimento paulatino entre as décadas de 1970 e 1980, mas que a grande ampliação do número de grupos é um processo que se dá a partir dos anos 1990, atingindo seu ápice nos anos 2000.
Tabela 4: Número de grupos de teatro por década da fundação
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
Gráfico 2: Porcentagem de grupos por década da fundação
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
Há alguns marcos temporais já apontados anteriormente que podem explicar essa curva.
Um deles se dá em 1979, com a criação da Cooperativa Paulista de Teatro, quando os coletivos se organizam juridicamente em torno dela para operar frente ao Estado e ao mercado, a partir de demandas em comum (POMPEU E VASCONCELOS, 2020). Sendo assim, fruto dessa organização, durante a década de 1980 surgiram mais 7 grupos, o que representa 3,6% do total em atividade hoje.
Outro marco temporal é a redemocratização do país, pós 1985, momento em que é significativa a ampliação das práticas do Teatro de Grupo, na década de 1990 com mais 45 novas experiências, ou seja, 22,8% dos atuais grupos em atividade. É um momento em que o teatro se fortalece como um lugar para questionar a onda neoliberal que se instala na cultura, sobretudo com a edição da Lei Rouanet, que direcionou recursos públicos para a escolha da iniciativa privada dos projetos a serem financiados com dinheiro de impostos.
Por fim, marcos temporais dos anos 2000, como o Manifesto Arte contra Barbárie, a criação do Programa Municipal Fomento ao Teatro e a Lei de Fomento, em 2002, explicam esse momento de grande ampliação das práticas com novos grupos com 81 no total, representando 41,1% dos grupos atuantes hoje. Esse crescimento foi acompanhado da criação de novas formas de organização para além da Cooperativa Paulista de Teatro. Surgem, assim, o Movimento 27 de março e o Motin, Movimento dos Teatro de Grupo, em 2013.
Na década de 2010, o crescimento atingiu patamar menor que os anos 2000, porém, ainda é expressivo o número de novos grupos sendo criados, 56, representando 28,4% dos grupos em atividade hoje.
Número de integrantes
Outra informação coletada na pesquisa para compreender o perfil das práticas do Teatro de Grupo foi relativa ao número de integrantes. Percebe-se que a maior parte dos grupos são formados por até 10 integrantes, ou seja cerca de 55,8% ou 110 grupos. Isso revela que a prática é em grande parte organizada em torno de um conjunto pequeno de integrantes, que se dividem no trabalho de pesquisa, concepção e criação de forma sempre coletiva com atividades compartilhadas.
Poucos são grupos que podem ser considerados de porte médio, ou seja, que tem de 11 a 20 integrantes. Neste caso temos 19 grupos representando cerca de 9,6% do universo. Além disso, é ínfimo o número de grupos maiores, com mais de 20 integrantes. Neste caso temos apenas 8 grupos, representando cerca de 4% do universo. Há que se enfatizar o fato de que para cerca de 30% do universo não encontramos informações disponíveis, ou seja, para 60 grupos.
Também é importante destacar o que foi apresentado no relatório da pesquisa de consulta com os grupos. Conforme Souza (2021), diversos coletivos relataram um esvaziamento dos grupos em função das paralisações decorrentes da pandemia, dado que o fluxo de trabalho e verba diminuiu drasticamente. Ainda, segundo a autora, alguns outros grupos relataram que possuem núcleos pequenos com atores fixos e dependendo da montagem, recebem a colaboração de artistas externos à companhia.
Gráfico 3: Número de grupos de teatro por integrantes
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Organização: João Rodrigo V. Martins.
Grupos com recorte étnico-racial, de gênero e sexualidade
No conjunto geral dos dados, a pesquisa ainda mostrou uma informação importante em relação à composição dos grupos, se considerados marcadores identitários e recortes étnicos-raciais, de gênero e de diversidade sexual. Tais recortes são importantes para considerar na elaboração do Plano de Salvaguarda em função de realidades sociais existentes como discriminação, racismo e preconceito.
Os dados levantados são ainda preliminares e merecem uma pesquisa futura específica, razão pela qual não será apresentada uma lista destes grupos no Plano de Salvaguarda. Na tentativa de compreender melhor estes grupos e suas dificuldades específicas foram feitas duas chamadas públicas para reunião sobre o tema, no mês de fevereiro de 2023. Entretanto houve pouco retorno o que inviabilizou o detalhamento destes dados.
Retomando o que já foi colocado na parte 1 do Plano, os grupos identitários e étnico-raciais são definidos a partir da presença predominante de corpas, corpes e corpos: de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas periféricas, de indígenas e de quilombolas, de grupos de imigrantes, de lésbicas, de gays, de bissexuais, de transexuais, de transgêneros, de travestis, de pessoas queer, de pessoas intersexo e outras orientações sexuais e identidades de gênero fluindo e em processo (LGBTQIA+).
Observa-se nos dados iniciais coletados (ainda preliminares e sujeitos a pesquisa mais detalhada) que cerca de 30,96% do universo é composto por estes grupos, dentre eles os mais expressivos numericamente são aqueles formados somente por mulheres (22 grupos), seguido de sujeitos periféricos (19 grupos), grupos formados por integrantes negros (16 grupos) mas que somados aos grupos formados por mulheres negras (5 grupos) elevam o recorte racial para 21 grupos, e grupos LGBTQIA+ (11 grupos).
Essa identificação foi feita a partir da leitura dos conteúdos das fichas dos grupos que foram levantados e mostram que as apresentações artísticas abordam temas ligados a violência contra diferentes corpos na cidade, racismo e homofobia promovendo reflexões sobre pautas feministas, antirracistas, LGBTQIA+ e a defesa de direitos humanos, mas também estão voltadas a valorização de culturas periféricas e negras.
Tabela 5: Número de grupos por recorte étnico-racial, de gênero e sexualidade
[CONFERIR NO DOCUMENTO PDF COM IMAGENS E TABELAS]
Elaborado por Vanessa Lima de Oliveira.
Cabe uma última observação e explicação das perguntas realizadas na pesquisa com os grupos de teatro, em relação aos recortes utilizados, que concernem ao gênero, raça, sexualidade, dentre outros, que devem ser interpretadas à luz da seguinte consideração.
Na primeira pergunta observamos que 52 grupos do universo de 197 representam algum recorte de grupos discriminados ou subalternizados. Na segunda pergunta observa-se um total de 81 respostas, número superior aos 52 grupos respondentes. Isso ocorre porque a segunda pergunta foi aberta, os grupos respondentes então descreviam com qual ou quais recortes trabalham. Isso criou um cenário de grupos respondentes que acionaram mais de um recorte. A opção metodológica desta pesquisa para esta pergunta foi contabilizar cada recorte como uma resposta, ou seja, por exemplo, determinado grupo diz representar mulheres negras periféricas, logo foram contabilizados 3 respostas: mulheres, negritude e moradores da periferia. Tal fato explica um maior número no total de respostas nesta pergunta do que do universo de respondentes que disseram “sim” na pergunta anterior.
Parte 03 – AÇÕES DE SALVAGUARDA
Apresentação das Ações Propostas
Este quadro sistematiza as propostas de ações para a salvaguarda do Teatro de Grupo como bem cultural imaterial do município de São Paulo, consolidando o discutido ao longo do processo de elaboração deste Plano de Salvaguarda e seus Encontros de Trabalho. Partindo do trabalho de conceituação exposto, o quadro abaixo elenca qual medida indicada, indica a responsabilidade (agentes principais e secundários) pela sua consecução, qual eixo a proposta mais se relaciona e apresenta um indicativo de prioridade.
Foram considerados como estruturantes deste quadro a perspectiva de um ciclo de revalidação de um bem cultural imaterial conforme Lei Municipal 14.406/2007, de dez anos, e os eixos de ações de salvaguarda propostos pelo IPHAN:
1) Produção e Reprodução Cultural – ações relacionadas diretamente com o apoio à manutenção e continuidade das práticas e saberes relacionados ao bem cultural registrado;
2) Mobilização Social e Alcance da Política – apresenta um conjunto de ações que, por um lado, objetiva fomentar a autogestão do patrimônio pelos próprios detentores e aperfeiçoar aptidões para o relacionamento com políticas públicas e, por outro lado, demarca o papel dos órgãos de patrimônio cultural como mediador institucional e promotor de políticas intersetoriais;
3) Gestão Participativa e Sustentabilidade – conjunto de ações que buscam aperfeiçoar e produzir competências para o planejamento, elaboração, execução e avaliação de ações de salvaguarda;
4) Difusão e Valorização – conjunto de ações voltadas para a promoção do patrimônio cultural imaterial, com o objetivo de publicizar sua importância para a sociedade em geral.
Ainda, o indicativo de prioridade foi apontado como 1 - alto, 2 - médio e 3 - baixo.
Levantamento de Ações por eixo de preservação
Eixo 1 - Produção e Reprodução Cultural
AÇÃO 01
Criação de Fomento Público para Ações Integradas no Território, como um programa público que compreenda múltiplas modalidades de ações dos coletivos de teatro nos territórios.
Como exemplos: Projeto Se essa rua fosse minha SMC/SP); Programa Mais Cultura nas escolas (MINC), Projeto Ruas de Lazer (SMC/SP); Projeto Cidadania em Cena (SMC/SP); Programa Formação de Público (SMC/SP)
Agente principal SMC/SP
Agente Secundário: CFOC
Prioridade: 2
AÇÃO 02
Criação de Ateliês Públicos distribuídos pelas diversas regiões da cidade voltados às práticas de cenotécnica, figurino, técnica, iluminação, sonoplastia, produção, com banco de doação e empréstimo de materiais cênicos, bem como atividades formativas voltadas à transmissão dos saberes técnicos da área.
Como exemplos: FabLab Livre SP (SMC/SP); Programa Criatividades - CRIA (SMC/SP).
Agente principal: SMC/SP
Agente Secundário: Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri (Theatro Municipal de São Paulo)
Prioridade: 2
AÇÃO 03
Articulação com instituições universitárias para criação de editais para Projetos de Extensão e Bolsas de Pesquisa voltadas à temática do Teatro de Grupo como patrimônio imaterial com a finalidade de transmissão de saberes e documentação da prática.
Como possibilidades práticas temos: - Licenciaturas (estágios de docência no ensino não-formal)
- Bacharelados (estágio de acompanhamento e participação em processos) - Aproximações de pesquisa (graduação, pós-graduação) - Cursos de Extensão Universitária.
O Centro de Memória do Teatro de Grupo (re)unificará e publicizará os trabalhos acadêmicos produzidos nas universidades e centros de pesquisa.
Como exemplo temos a experiências de memória e arquivo: IA/Unesp - “Teatro Sem Cortinas” e Biblioteca (CAC/USP).
Agentes principais e secundários: Universidades como USP, UNICAMP, Unesp, Unifesp, PUC-SP e Escolas Técnicas: SP Escola de Teatro; ETEC de Artes; Teatro-Escola Macunaíma; Célia Helena Centro de Artes e Educação; SENAC em parceria com o Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo (SMC/SP); Associação Brasileira de Pesquisa e Pós graduação em Artes Cênicas - ABRACE; Federação de Arte/Educadores do Brasil (FAEB); Organização Paulista de Arte Educação – OPAE
Prioridade: 1
AÇÃO 04
Criação de Editais Públicos para reconhecimento de mestres e mestras de notório de saber. À semelhança do “Programa Tesouros Humanos Vivos da Unesco”, criado em 1993 para reconhecimento de pessoas com alto nível de conhecimento e habilidades necessárias para realizar práticas culturais do patrimônio imaterial e da execução da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) no âmbito municipal no Módulo V - Daisy Lúcidi, que trata do reconhecimento pelo conjunto da obra e produção cultural para profissionais da cultura, mestres de cultura e/ou guardiões da memória e da cultura de tradição oral com mais de 60 anos que atuem e/ou atuaram culturalmente na cidade de São Paulo.
Agente principal: SMC/SP
Agentes secundários: Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo (SMC); Centro de Memória do Teatro de Grupo
Prioridade: 1
AÇÃO 05
Articulação com secretarias de educação estadual e municipal para desenvolvimento de projetos de ação cultural (apresentações, mediações, atividades artístico-pedagógicas, etc) no turno ou contraturno escolar.
Como exemplos: Programa Mais Cultura nas Escolas (Minc/PMSP); Cultura É Currículo (SEE/SP); Programa Escola da Família (SEE/SP), Formação de Público (SMC/SP); Programa Vocacional (SMC/SP).
Agente principal: SMC
Agentes e secundários: Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo (SMC); SME/SP; SEE/SP; FDE
Prioridade: 1
AÇÃO 06
Criação de ZEPECs-APCs para os grupos que possuem sedes, a partir do levantamento dos coletivos anexo neste Plano de Salvaguarda.
Esta ação poderá estar vinculada a outras ações de apoio e proteção específicas, dependendo das regiões em que estão inseridos estes teatros-sede. com possibilidade de financiamentos pelo Fundurb.
Agente principal: PMSP
Agentes secundários: DPH; CONPRESP; CMPU
Prioridade: 1
AÇÃO 07
Apoio a grupos sem sede própria, fomentando o uso de espaços ociosos, convênios, residências artísticas e permissões de uso em equipamentos públicos, como Teatros Distritais e suas salas alternativas, Teatros dos CEUs, Centros Culturais, Bibliotecas, Casas de Cultura e Escolas da Rede Pública.
Agente principal: SMC/SP
Agentes secundários: Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo (SMC); CFOC; Secretaria de Finanças - SMF; SMUL; SMSUB
Prioridade: 1
AÇÃO 08
Fortalecimento e ampliação orçamentária da Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, reconhecendo as especificidades do Teatro de Grupo, o acompanhamento dos projetos e dos indicadores como política pública. Criação de novos editais para fomentar grupos estáveis, cujos trabalhos são contínuos no tempo (mais de 25 anos) e com reconhecido fazer. Criação de editais de estímulo para grupos recém-formados para o desenvolvimento de pesquisas próprias a partir de características que estejam alinhadas com o que se denomina Teatro de Grupo.
Nesse sentido, também implementar políticas de integração e cooperação dos grupos estáveis com os grupos recém-formados.
Agente principal: Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo (SMC/SP)
Agente secundário: CFOC
Prioridade: 1
AÇÃO 09
Atenção para a saúde e envelhecimento dos detentores e detentoras do Teatro de Grupo da Cidade de São Paulo. Implementar ajustes nas cláusulas dos processos de contratação e parcerias (editais, ações, programações) com previsão de adaptações (ações, prazos e recursos) quando questões ligadas ao envelhecimento, saúde, maternidade, necessidades especiais, entre outras se apresentarem de forma imprevista durante a realização de atividades.
Agente principal: SMC
Prioridade: 2
Eixo 2 - Mobilização Social e Alcance da Política
AÇÃO 10
Criação de um Centro de Referência do Teatro de Grupo da Cidade de São Paulo, com equipe própria e espaço físico (estrutura autônoma) que compreenda um Escritório Técnico para atender as demandas da salvaguarda do Teatro de Grupo, uma estrutura burocrática que articule ações e agentes para a implementação do Plano, sua continuidade e execução de suas políticas.
Como indicação de possíveis intermediações entre os grupos (detentores), subprefeituras, demais secretarias, equipamentos sociais, culturais e educacionais, principalmente escolas, parques, CADES, e saúde - UBSs, Rede de Apoio Psicossocial (RAPS), além de organizações, entidades e universidades. Como exemplos: Centro de Referência da Dança - CRD; Centro de Memória do Circo - CMC (Divisão de Museus);
Agente principal: SMC/SP
Prioridade: 1
AÇÃO 11
Criação de Banco de Dados dos grupos teatrais disponível em plataforma pública, utilizando e atualizando periodicamente o inventário já realizado com a colaboração direta dos núcleos artísticos, bem como interligando as fontes de dados, registros e documentações que estejam em outros equipamentos e setores da administração pública. Como exemplos: Centro de Documentação e Memória (Theatro Municipal) ; Arquivo Municipal (SMC/SP); Arquivo Multimeios (SMC/SP)
Agente principal: DPH
Prioridade: 2
AÇÃO 12
Articulação com Circuito Municipal de Cultura, incluindo a inserção no Calendário Oficial da Prefeitura de São Paulo, na realização de Mostras, Festivais, programações continuadas e na vinculação com temas existentes em datas específicas e ao longo do ano, com garantia de recursos, integrado de forma sistêmica à programação cultural do município.
Além de ações de divulgação e reconhecimento das sedes dos coletivos como parte da agenda de eventos da cidade, com a garantia da presença na veiculação das programações e sua visibilidade.
Como exemplo: Recreio nas Férias (SME/SP); Aniversário de São Paulo; Jornada do Patrimônio (SMC/SP); Virada Cultural (SMC/SP); Revista EnCartaz (SMC/SP); e publicações das agendas municipais relacionadas
Agente principal: CPROG
Agentes secundários: SCC; CCULT; SPTuris; SME/SP.
Prioridade: 2
AÇÃO 13
Implementação do Vale-Teatro de Grupo, subsídio ao acesso do público por meio de um cartão para frequentadores em seus teatros-sede. Criando um estímulo à formação de público com valores de ingressos subsidiados pelo poder público (total ou parcialmente), fomentando a subsistência dos grupos ao apoiar financeiramente suas bilheterias, a partir dos comprovantes de borderô. Exemplos: Vale-Cultura (Minc); Subsídio de bilheteria em Teatros Distritais (SMC/SP); Eu Faço Cultura (Caixa Econômica Federal).
Agentes principais: CFOC; CPROG; SPTuris.
Prioridade: 2
AÇÃO 14
Criação de Aplicativo com Dados dos Grupos, com atualização constante de apresentações e programações, georreferenciamento dos espaços e deslocamentos ao longo do tempo.
Como exemplos de base de dados: SPCultura; Geosampa.
Agente principal: SMC/SP
Agentes secundários: DPH; CFOC; SMIT/SP; PRODAM/SP
Prioridade: 2
AÇÃO 15
Apoio e Assessoria Técnica para adaptação e melhoria dos espaços físicos dos coletivos. A ação também compreende o estudo e levantamento das edificações e de seus entornos, suas infraestruturas e acessibilidade. Tornar os espaços mais seguros e/ou com enquadramentos próprios para suas atividades a partir da articulação com as diferentes instâncias do poder público e da sociedade civil.
Agentes principais: Universidades; Escolas Técnicas: ETECs e FATECs, em parceria com CAU/SP; SMC; DPH; SMUL; SMSUB
Prioridade: 2
AÇÃO 16
Criação de Editais próprios de apoio e parcerias com grupos de teatro que atuam ou que se localizam em áreas definidas pelo Plano Diretor como TICP (Território do Interesse da Cultura e da Paisagem) articulado aos grupos gestores correspondentes e às demais áreas relacionadas da administração pública, agentes e entidades da sociedade.
Agentes principais: SMUL; CMPU; SMSUB; SMC
Prioridade: 2
AÇÃO 17
Ampliação e desburocratização da lei de isenção de IPTU para Teatros e Espaços Culturais (Lei nº 16.173/15), instituindo portaria conjunta SF/SMC para facilitar o acesso e tramitação dos processos. Simplificação dos procedimentos de renovação dos pedidos por um espaço com atuação reconhecida anteriormente, continuada e comprovada, bem como suspensão das cobranças e/ou restituição de valores aprovados.
Agente principal: PMSP
Agentes secundários: SF/SP; SMC/SP
Prioridade: 2
Eixo 3 - Gestão Participativa e Sustentabilidade
AÇÃO 18
Inserção nos meios de divulgação da PMSP: pontos de ônibus, terminais de ônibus, relógios públicos, escolas e UBSs. Bem como em equipamentos da administração estadual como estações e trens Metrô/CPTM, além de equipamentos de educação, equipamentos culturais, anúncios em aplicativos da gestão pública e páginas da web.
Como exemplos: Revista EnCartaz (SMC/SP); “Jornal do Ônibus (SPTrans)
Agente principais: SPTrans; SMSUB; SPTuris; SME.
Prioridade: 3
AÇÃO 19
Formação e fortalecimento dos corpos técnicos da Prefeitura, garantido a execução das políticas necessárias à implementação e execução das ações elencadas no plano de salvaguarda.
Agente principal: PMSP
Prioridade: 1
AÇÃO 20
Criação de Comitê Gestor da Salvaguarda do Teatro de Grup, com realização de Fórum anual sobre a prática do Teatro de Grupo da Cidade de São Paulo, a partir das bases do Salvaguarda do Teatro de Grupo. O evento deverá ser realizado periodicamente, sendo ao menos anual, e onde poderão ser realizados debates, palestras e seminários acerca de todas as áreas, formas de produção, estéticas, aspectos históricos, diálogo com a cidade e demais características da práxis do teatro de grupo.
Agentes principais: SMC e coletivos do teatro de grupo
Prioridade: 1
AÇÃO 21
Democratização e descentralização da gestão dos equipamentos públicos para garantir o uso - formas mais coletivas de decisão, conselhos e participação / execução descentralizada de recurso como ferramenta para uma visão territorializada desses espaços e parceria com os grupos atuantes na região. Dessa forma, assimilando suas atividades nas programações, bem como as experiências desenvolvidas, seu enraizamento e também as necessidades de espaço para ensaio, guarda de materiais e outras demandas.
Agente principal: SMC
Prioridade: 1
AÇÃO 22
Integração das políticas de apoio, pensando-as como sistema, priorizando a proporcionalidade e o atendimento dos grupos, bem como suas características singulares. Prever e executar uma ampliação orçamentária para a área, bem como a complementaridade das políticas para salvaguardar a atividade dos coletivos.
Como exemplo: Plano Municipal de Cultura (SMC/SP), Sistema Municipal de Cultura (SMC/SP)
Agente principal: PMSP
Prioridade: 2
AÇÃO 23
Atenção para as especificidades da criação, pesquisa e produção do teatro de grupo, garantindo o tempo do processo e as necessidades de adaptação no decorrer do desenvolvimento das pesquisas, com regulamentações específicas que contemplem as características da práxis inseridas em contextos de contratações e projetos públicos.
Agente principal: PMSP
Prioridade: 1
AÇÃO 24
Fortalecer as experiências de organização dos grupos no sentido de compreender e salvaguardar o modo cooperativista característico do teatro de grupo, refletido em sua mais longeva e simbólica representação institucional, a Cooperativa Paulista de Teatro (CPT). Além do fortalecimento e reconhecimento das mobilizações sociais como o Movimento de Teatro de Grupo de São Paulo (MTG-SP) e Movimento dos Teatros Independentes (MOTIN) no sentido de suas potências de congregar coletivos diversos, detentoras em pautas e modos de organização comuns.
Agente principal: PMSP
Agente secundário: SMC/SP
Prioridade: 1
Eixo 4 - Difusão e Valorização
AÇÃO 25
Instalação de Sinalização Turística Viária (placas marrons) e inserção dos lugares aos mapas turísticos das sedes de teatro de grupo na cidade.
Agente principal: PMSP
Agentes secundários: solicitação via DPH (SMC/SP) para Sinalização Turística Viária em parceria com SPTuris e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP)
Prioridade: 3
AÇÃO 26
Criação do Centro de Memória do Teatro de Grupo com a competência de realizar ações de memória e documentação da prática do Teatro de Grupo, tais como anuários, publicações, arquivos multimeios. A implementação do mesmo pode se dar em conjunto com o Centro de Referência do Teatro de Grupo da cidade de São Paulo.
Como exemplo: Centro de Memória do Circo (SMC/SP); Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC/FUNARTE/MinC).
Agente principal: SMC
Prioridade: 1
AÇÃO 27
Apoio à documentação, registro e reflexão sobre o teatro de grupo, com difusão/publicação de anuários, facsimiles, estudos, planos de salvaguarda e materiais correlatos. Possibilidade de fazer um portal específico com a compilação destes estudos, relatórios, além de poder realizar seminários públicos e conversas entre grupos sobre suas práticas.
Exemplo: Diálogos Teatrais (SMC/SP), Livro 12 anos da Lei de Fomento ao Teatro (SMC/SP), Ciclo de Estudos Teatro e Cidade (CCSP/SMC/SP), Teatro de Grupo na cidade de São Paulo e Grande São Paulo (ADAAP e SMC/SP).
Agente principal: SMC/SP
Agentes secundários: Centro de Memória do Teatro de Grupo (SMC), Escritório Técnico de Salvaguarda do Teatro de Grupo
Prioridade: 1
Glossário de principais siglas citadas nas ações
PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo
SMC - Secretaria Municipal de Cultura/PMSP
DPH - Departamento do Patrimônio Histórico/SMC
SCC - Supervisão Casas de Cultura/SMC
CCULT - Coordenadoria de Centros Culturais e Teatros/SMC
CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas/SMC
CPROG - Coordenadoria de Programação Cultural/SMC
CFOC - Coordenadoria de Fomento e Cidadania Cultural/SMC
SFC - Supervisão de Formação Cultural/SMC
STI - Supervisão de Tecnologia da Informação/SMC
SPTuris - São Paulo Turismo/PMSP
SMUL - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento/PMSP
SMSUB - Secretaria Municipal de Subprefeituras
SME - Secretaria Municipal de Educação
SMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo
CET – Companhia de Engenharia de Trafego
PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo
FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação
SEE – Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
UBS - Unidade Básica de Saúde
LISTA PRELIMINAR DOS COLETIVOS DO TEATRO DE GRUPO DA CIDADE DE SÃO PAULO IDENTIFICADOS
1 (PH2) Estado de Teatro
2 28 Patas Furiosas
3 A Digna (Coletivo Teatral)
4 A Fabulosa Companhia - Teatro de Histórias
5 A Jaca Est
6 A Motoserra Perfurmada
7 A Próxima Companhia
8 Abbacircus
9 Ágora Teatro
10 Agrupamento Andar 7
11 AIVU Teatro
12 Arlequins
13 Arte Tangível
14 As Meninas do Conto
15 Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona
16 Balangandança Cia.
17 Banda Mirim
18 Bando de Teatro dos Comuns
19 Bando Goliardis
20 Bando Jaçanã
21 Bando Trapos
22 Barracão Cultural
23 Bendita Trupe
24 Benvinda Cia.
25 Brava Companhia
26 Buraco d´Oráculo
27 Caixa de Fuxico
28 Capulanas Cia. de Arte Negra
29 Carcaças de Poéticas Negras
30 Cia. Artehúmus de Teatro
31 Cia. Arthur-Arnaldo
32 Cia. Articularte
33 Cia. Bendita
34 Cia. Bonecos Urbanos
35 Cia. Cafonas & Bokomokos
36 Cia. Canina de Teatro de Rua e Sem Dono
37 Cia. Cênica Nau de Ícaros
38 Cia. Conto em Cantos
39 Cia. da Revista
40 Cia. da Tribo
41 Cia. de Achadouros
42 Cia. de Teatro Acidental
43 Cia. de Teatro Lusco-Fusco
44 Cia. do Bife
45 Cia. do Pássaro - Voo e Teatro
46 Cia. do Quintal
47 Cia. do Sopro
48 Cia. do Tijolo
49 Cia. dos Imaginários
50 Cia. dos Inventivos
51 Cia. Elevador de Teatro Panorâmico
52 Cia. Estável de Teatro
53 Cia. Filhos de Olorum - Os Crespos
54 Cia. Gufa de Teatro
55 Cia. La Leche
56 Cia. Les Commediens Tropicales
57 Cia. Livre
58 Cia. Los Puercos
59 Cia. Lúdica
60 Cia. Lúdicos de Teatro Popular
61 Cia. Malucômico de Teatro
62 Cia. Mundu Rodá e Grupo Manjarra
63 Cia. Mungunzá de Teatro
64 Cia. Nômades Urbanos
65 Cia. Nova Dança 4
66 Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação
67 Cia. Ouro Velho
68 Cia. Paideia de Teatro
69 Cia. Patética
70 Cia. Pombas Urbanas
71 Cia. Provisório Definitivo
72 Cia. Sabre De Luz Teatro
73 Cia. São Jorge de Variedades
74 Cia. Solas do Vento
75 Cia. Teatral As Graças
76 Cia. Teatral Damasco
77 Cia. Teatral Enchendo Laje & Soltando Pipa
78 Cia. Teatro da Investigação (CTI)
79 Cia. Teatro Documentário
80 Cia. Trilhas da Arte - Pesquisas Cênicas
81 Cia. Triptal de Teatro
82 Cia. Truks
83 Cia. Um de Teatro
84 Cia. Vagalum Tum Tum
85 Ciclistas Bonequeiros
86 Circo di SóLadies
87 Circo Mínimo
88 Circo Teatro Palombar
89 Clã Estúdio das Artes Cômicas
90 Clownbaret
91 Coletivo Acuenda
92 Coletivo ALMA (Aliança Libertária Meio Ambiente)
93 Coletivo Ato de ResistênCia
94 Coletivo Cênico Joanas Incendeiam
95 Coletivo de Galochas
96 Coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes
97 Coletivo Estopô Balaio
98 Coletivo Garoa
99 Coletivo Labirinto
100 Coletivo Negro
101 Coletivo O Bonde
102 Coletivo Phila 7
103 Coletivo Quizumba
104 Coletivo Sementes
105 Coletivo Teatro Dodecafônico
106 Companhia Antropofágica
107 Companhia Barco
108 Companhia da Memória
109 Companhia de Teatro Heliópolis
110 Companhia de Teatro Nóis na Mala
111 Companhia de Teatro Os Satyros
112 Companhia Delas
113 Companhia do Feijão
114 Companhia do Latão
115 Companhia do Miolo
116 Companhia Estudo de Cena
117 Companhia Hiato
118 Companhia Letras em Cena
119 Companhia Linhas Aéreas
120 Companhia O Grito
121 Companhia Ocamorana
122 Companhia Os Fofos encenam
123 Companhia Paulicea de Teatro
124 Companhia Teatro do Incêndio
125 CompanhiaDaNãoFicção
126 Conexão Latina de Teatro
127 Confraria da Paixão
128 Eco Teatral
129 Engenho Teatral
130 Estelar de teatro
131 ExCompanhia de Teatro
132 Folias D'arte
133 Fraternal Companhia de Artes e Malas-Artes
134 Grupo 59 de Teatro
135 Grupo Arte Simples de Teatro
136 Grupo Caixa de Imagens
137 Grupo Caleidoscópio
138 Grupo Circo Branco
139 Grupo Clã do Jabuti
140 Grupo Esparrama
141 Grupo Furunfunfum
142 Grupo Gattu
143 Grupo Morpheus Teatro
144 Grupo Pandora de Teatro
145 Grupo Parlapatões, Patifes & Paspalhões
146 Grupo Pasárgada de Teatro
147 Grupo Redimunho de Investigação Teatral
148 Grupo Refinaria Teatral
149 Grupo Sobrevento
150 Grupo Xingó
151 Grupo XIX de Teatro
152 Grupo XPTO
153 Habitarte
154 II Trupe de Choque
155 Impulso Coletivo - Teatro
156 Invasores Companhia Experimental de Teatro Negro
157 Kiwi Companhia de Teatro/Coletivo Comum
158 LABTD - Laboratório de Técnica Dramática
159 LaMínima Circo e Teatro
160 Madeirite Rosa
161 Mal-Amadas Poética do Desmonte
162 Mamulengo da Folia
163 Metamorfaces
164 Mundana Companhia
165 Núcleo Arte Ciência no Palco
166 Núcleo Barro 3
167 Núcleo Bartolomeu de Depoimentos
168 Núcleo Cênico Projeto BaZar
169 Núcleo do 184 / Teatro Studio Heleny Guariba
170 Núcleo Experimental e Teatro do Bardo
171 Núcleo Macabéa
172 Núcleo Pele
173 Nucleo Sem Drama
174 Núcleo Teatral Filhas da Dita
175 O Bonde
176 OPOVOEMPÉ
177 PoLEiRo
178 Rainha Kong
179 República Ativa de Teatro
180 Taanteatro Companhia
181 Tablado de Arruar
182 Teatro Cartum
183 Teatro da Travessia
184 Teatro da Vertigem
185 Teatro de Rocokóz
186 Teatro de Utopias
187 Teatro do Osso
188 Teatro Encena
189 Teatro Kaus Cia. Experimental
190 Teatro Kunyn
191 Teatro Por Um Triz
192 Teatro União e Olho Vivo (TUOV)
193 Trupe Lona Preta
194 ultraVioleta_s
195 Uma Companhia
196 Velha Companhia
197 Zózima Trupe